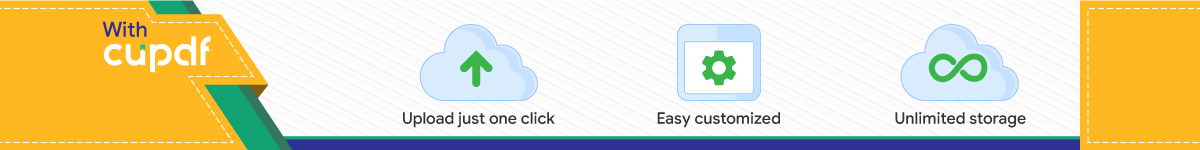
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Letras
Ana Luiza Franco de Oliveira
GRANDE VIÉS: VEREDAS
— A indumentária masculina em Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa
Belo Horizonte
2021
Ana Luiza Franco de Oliveira
GRANDE VIÉS: VEREDAS
— A indumentária masculina em Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), como requisito parcial para a obtenção do título de Mestra em Literaturas de Língua Portuguesa. Orientadora: Prof.ª Dra. Márcia Marques de Morais Área de concentração: Literaturas de Língua Portuguesa Linha de Pesquisa: Trânsitos literários: produção, tradução e recepção
Belo Horizonte
2021
Ana Luiza Franco de Oliveira
GRANDE VIÉS: VEREDAS
— A indumentária masculina em Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), como requisito parcial para a obtenção do título de Mestra em Literaturas de Língua Portuguesa. Orientadora: Prof.ª Dra. Márcia Marques de Morais
____________________________________________________________________
Prof.ª Dra. Márcia Marques de Morais — PUC Minas (Orientadora)
____________________________________________________________________
Prof.ª Dra. Ivete Lara Camargos Walty — PUC Minas/UFMG (Banca Examinadora)
____________________________________________________________________
Prof.ª Dra. Telma Borges da Silva — UFMG (Banca Examinadora)
Belo Horizonte
20 de dezembro de 2021
A Antonieta, Leonel e Priscila, meus encantados, pela memória do sertão de minha infância.
A Izabel e Lucas, meus encantadores, pela companhia corajosa na travessia.
AGRADECIMENTOS
À Izabel, minha “mamãezinha da fililhinha”, pela vida, sobrevivência, respiração e
existência; por ser exemplo de professora e costureira; por me ensinar a ler, escrever e
costurar; pela herança de minhas paixões; e pelos meus tortos dedos que escreveram todas
essas palavras.
Ao Lucas, meu amô, meu leitor, meu revisor, meu companheiro, meu manuelzinho-da-
crôa, coraçãomente, por ser amor-amigo; pela admiração, carinho, cuidado, incentivo,
companhia, alegria, coragem, respeito e liberdade; pela travessia do Liso do Sussuarão à
nossa Refazenda Verde-Alecrim.
À Malvina e Úrsula, por cada ronron, raspadinha, pulinhos, espreguiçadas,
brincadeiras a interromperem minha escrita para recarregar minha feli(ni)cidade — “(...)
quem bem-trata gato, consegue boa-sorte” (ROSA, 2015, p. 290).
Ao Roberto, meu pai, pelo incentivo, sustento, sobrevivência, sacrifício; por cobrar
constantemente que eu aprendesse e respeitasse a Língua Portuguesa (mesmo que me sirva,
hoje, também para subvertê-la); por demonstrar em ações o que ainda não sabemos em
palavras.
À Pollyanna, minha irmã-amiga, por seus esmerados esmartes olhos trazendo a certeza
de que o vento é verde; pela admiração, incentivo, companhia e amor; pela (dê)mão; por
atravessarmos juntas o viver tão perigoso.
À Fayga, minha amiga, mas minha estranha, por me permitir o bom proveito de falar
assim com quem me ouve e logo vai-se embora, fazendo com que eu fale é mais comigo
mesma; por não me colocar em julgamento; pelo vinho de carne brava; pela sabedoria,
reflexão e apoio.
À Maria Lyra e ao Breno, minha amiga e meu amigo, e ao José, meu amigo-cunhado,
por serem bando, comunidade, vila, cooperativa, família; apoio, carinho, intelecto e
admiração.
À Aline e Arlete, por nossos nomes darem trio; por em nossas vidas, darmos o sangue;
por nosso vínculo eterno.
Às minhas amigas, Karina, Celeste, Danusa, Natália, Rafaela, Jéssica, Raquel, Anna
Luíza, Gabriela, Carla e Carolina, por — cada uma a seu tempo ou muitas o tempo todo —
fazerem do deserto, um carnaval; da dor, uma piada; do seco, taça cheia de vinho. Algumas,
por saberem também quem fui e, outras, por amarem quem sou e quem serei. E aos meus
amigos, Rafael, Igor, Guilherme e Wanderson, pelo carinho, diálogo e admiração.
A Francisco, Cecília, Eduardo, Anabelle, Olga, Ana Flávia, Gustavo, Inácio, Maria
Morena e Aurora, minhas esperanças, por renovarem o mundo; por me fazerem lembrar do
melhor que podemos ser.
À minha família materna, em especial, Tio Pedro, Tia Simone, Gláucia e Éder, por me
acolherem com tamanho carinho quando retornei para o sertão de minha infância.
À Márcia Marques de Morais, minha orientadora e amiga, pelo ânimo e esperança;
pelo primeiro dia de Grande Sertão: Veredas, na graduação, em 2009; e por agora, no
mestrado, enfrentar a encruzilhada de minha escrita por três vezes até que se costurasse a
trama de minha análise; pelo carinho e confiança; pelo brilho nos olhos toda vez que escuta o
nome de João Guimarães Rosa; por tanto e pelo muito.
À Ivete Walty e Priscila Campello, minhas amigas-professoras, pela confiança,
carinho e atenção; pela humanidade e simpatia; por me ensinarem a ler e desconfiar,
desconfiar e ler literatura; pelo espelho do que almejo ser.
À Sandra Cavalcante, Juliana Assis e Daniella Lopes, minhas amigas-professoras,
mestras da linguagem, da linguística, desse nosso falar e compreender; pelo carinho e cada
sorriso desde o início de minha caminhada; pelas tantas memórias de alegria mesmo que num
breve esbarrar de corredores acadêmicos; pelo entusiasmo contagiante que muito me ensina.
Ao Kaio, meu amigo, meu leitor, por me dar a mão no início e meio da travessia; por
colocar na minha vida o Grande Sertão: Veredas; por sua alta opinião a compor minha valia
acadêmica.
A Marilane Cazorla, Vinícius Linhares, Alexandre Veloso, Telma Borges, Flávia
Virgínia, queridos e queridas amigas, por todas as indicações de leitura e colaboração com os
materiais, além do apoio. E ao Luís Borges, meu amigo, pela delicadeza de me presentear
com um dos livros mais utilizados nesta pesquisa.
À PUC Minas, minha universidade, berço de meus estudos superiores, casa de minha
intelectualidade, lar de meu crescimento, por brilhar em meu universozinho infinita
constelação.
Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela
oportunidade da realização da pesquisa financiada por uma bolsa de mestrado; pelo sonho
realizado ao me afirmar Pesquisadora; pelo incentivo à Ciência; e por resistir em prol da
inteligência em tempos de “Terra plana”.
À Dilma e ao Lula, minha presidenta e meu presidente, por teimarem; pela resistência;
pelo Partido dos Trabalhadores; por provarem que o Brasil é mesmo grande.
O senhor fia? Pudesse tirar de si esse medo de-
errar, a gente estava salva. O senhor tece? Entenda
meu figurado.
(ROSA, 2015, p. 159)
Já ando nos preparativos, arrumando mochila,
cantil, roupa cáqui, pois serão 15 dias no ermo, a
carne seca com farinha-de-mandioca e café com
rapadura, sob sol, poeira, lama, chuva. Odisseus.
(João Guimarães Rosa em carta a Mário Calábria;
Rio de Janeiro, 31 mar. 1952. In: COSTA, 2006, p. 29)
RESUMO
Nesta pesquisa, buscamos analisar a indumentária masculina descrita na trama do romance
Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, com o intuito de compreender como cada
peça de vestuário tanto contribui para a construção da verossimilhança — em relação ao
tempo e espaço, ou seja, à cultura — quanto serve de ferramenta para reforçar o mistério do
enredo — como encobrimento do corpo de Diadorim. Para a realização dessa análise,
inicialmente, fizemos o fichamento de todos os itens de indumentária citados na trama para,
posteriormente, recortarmos os que dialogavam entre si e quais significados transcendiam da
seleção final, a partir de estudos das áreas de Literatura Brasileira, Sociologia da
Indumentária, Moda, História, Antropologia e Psicologia, além de pontuações sobre Ecologia,
Geografia e Engenharia Têxtil. O objetivo principal de nossa pesquisa é refletir sobre como o
diálogo interdisciplinar pode contribuir para a escrita e interpretação literárias, analisando
para isso as ocorrências de descrição de indumentária na obra de João Guimarães Rosa.
Assim, valemo-nos da reflexão de teóricos das diversas áreas, já citadas, como Walnice
Galvão, Frederico Pernambucano de Mello, Diane Crane, Patricia R. Anawalt, Peter
Stallybrass, Fredéric Godart, Antonio Candido, Roland Barthes, Paulo Ronái, Willi Bolle,
dentre outros, como segurança na compreensão dos aspectos múltiplos que se entrelaçam às
peças de vestuário reais e fictícias. Por isso, organizamos o texto de forma a, inicialmente,
estudar o significado linguístico, social e histórico do que é a indumentária, passando-se a um
estudo sobre a indumentária inscrita nas linhas literárias, refletindo tanto sobre trabalhos
acadêmicos que, assim como nós, se debruçaram sobre a temática, quanto sobre exemplos em
breve cronologia da literatura brasileira que vai de Machado de Assis a Ana Martins Marques,
para, finalmente, adentrar a análise das peças entrelaçadas ao sertão rosiano. No decorrer de
nossa análise foi possível perceber particularidades sobre como o vestuário masculino reforça
o mistério do enredo, bem como pontua anunciações, metaforiza sentimentos, demarca
autoridades, salienta ambiguidades, dentre outras descobertas.
Palavras-chave: Literatura Brasileira; Indumentária; Estudo Comparado;
Interdisciplinaridade; Literatura e Moda.
ABSTRACT
In this research, we seek to analyze the male attire described in the plot of the novel Grande
Sertão: Veredas (or “The Devil to Pay in the Backlands”), by João Guimarães Rosa, in order
to understand how each garment contributes to the construction of verisimilitude — in
relation to time and space, that is, to culture — as well as it serves as a tool to reinforce the
mystery of the plot — as a cover for Diadorim's body. In order to conduct this analysis, all the
items of clothing mentioned in the plot were initially registered and, later, those that
dialogued and whose meanings transcended the final selection, based on studies in the areas
of Brazilian Literature, Sociology of Clothing, Fashion, History, Anthropology and
Psychology, as well as scores on Ecology, Geography and Textile Engineering were selected
for this analysis. The main objective of this research is to reflect on how interdisciplinary
dialogue can contribute to literary writing and interpretation, analyzing the occurrences of
clothing descriptions in the work of João Guimarães Rosa. Thus, we draw on the reflection of
theorists from different areas, previously mentioned, such as Walnice Galvão, Frederico
Pernambucano de Mello, Diane Crane, Patricia R. Anawalt, Peter Stallybrass, Fredéric
Godart, Antonio Candido, Roland Barthes, Paulo Ronái, Willi Bolle, among others, as an
assurance to comprehend the multiple aspects that are intertwined with real and fictitious
garments. Therefore, the text was organized in order to, initially, study linguistic, social and
historical meanings of what clothing is, moving on to a study of clothing inscribed in literary
lines, reflecting both on academic works that, along with this one, pored over the theme, as
well as examples in a brief chronology of Brazilian literature, ranging from Machado de Assis
to Ana Martins Marques, to finally dive into the analysis of the articles of clothing intertwined
with the Rosian hinterland. During this analysis, it was possible to notice particularities about
how men's clothing reinforce the mystery of the plot, as well as punctuating annunciations,
serving as metaphors for feelings, demarcating authorities, highlighting ambiguities, among
other discoveries.
Keywords: Brazilian Literature, Clothing, Compared Study, Interdisciplinarity, Literature and
Fashion.
SUMÁRIO
1 FIO DA MEADA............................................................................................... 12
2 INDUMENTÁRIA — COSTURAR COSTUMES....................................... 16
2.1 Ser cerzidor: costurar para (sobre)viver............................................................ 22
2.2 “Descomposto nu”: cultura encobridora........................................................... 28
2.3 “O senhor ponha enredo”: o figurino do cotidiano........................................... 31
3 LITERATURA E INDUMENTÁRIA: TRAMAS TECIDAS....................... 37
3.1 Análises da indumentária literária brasileira “com toda leitura e suma
doutoração”............................................................................................................. 42
3.2 Tramando o gosto de especular personagens: breve cronologia da
indumentária em algumas obras da literatura brasileira.......................................... 51
4 GRANDE VIÉS: VEREDAS — A INDUMENTÁRIA MASCULINA EM
GRANDE SERTÃO: VEREDAS........................................................................... 63
4.1 Indumentária masculina: “macho em suas roupas”........................................... 65
4.1.1 Gibão: o jagunço antigo................................................................................ 69
4.1.2 Calça: o homem............................................................................................. 76
4.1.3 Camisa estampada: o “pano do destino”...................................................... 81
4.1.4 Colete-jaleco ou jaleco: proteção e afirmação social................................... 86
4.1.5 Chapéu: distintíssimo homem........................................................................ 91
4.1.6 Sapato, bota, alpercata: a hierarquia............................................................ 98
4.1.7 Lenço, capanga bordada, cinto-cartucheira: acessórios historientos........... 103
5 ARREMATE...................................................................................................... 108
REFERÊNCIAS.................................................................................................... 111
12
1 FIO DA MEADA
Na extraordinária obra-prima Grande Sertão: Veredas há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício; mas em cada aspecto aparecerá o traço fundamental do autor: a absoluta confiança na liberdade de inventar (CANDIDO, 2002, p. 121).
— “Atravessa!” — é a frase que nos ressoa ao adentrar a investigação proposta
quando a obra envolvida é Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. E, por mais
clichê, carece mesmo de ter coragem, justamente por se tratar de um romance que já foi tão
diversamente analisado, em milhares de teses, dissertações, ensaios e artigos, dentre outros,
por nomes consagrados da crítica literária, como Walnice Galvão, Antonio Candido, David
Arrigucci Jr., Márcia Marques de Morais, José Miguel Wisnik etc. Porém, a escrita de
Guimarães Rosa “dá pano para a manga”, e é literalmente nisso que este trabalho se trama: a
indumentária masculina rosiana.
Ao lermos as centenas de páginas de Grande Sertão: Veredas, o maior espanto se
dispõe no final, quando o narrador nos revela, diante do corpo morto de seu companheiro, que
o jagunço “(...) Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita...” (ROSA, 2015, p. 485).
A nossa surpresa se dá porque Diadorim é apresentado na prosa de Riobaldo, desde criança,
como alguém que se vestia com indumentária masculina, com chapéu, calça, colete, camisa
— vestimenta clássica masculina em áreas rurais, entre o final do século XIX e início do XX.
E essa surpresa se explica pelo que Paulo Ronái (2020) chama de “realismo psicológico”,
sobre o qual a indumentária nos serve de ferramenta de verossimilhança na construção da
interpretação. Logo, Ronái (2020) destaca que
(...) todas as audácias da construção, toda a riqueza do conteúdo filosófico, seriam apenas jogos de inteligência se o sertão de Guimarães Rosa não fosse também, além de símbolo, realidade viva e concreta, com seus bichos, plantas, gentes e superstições admiravelmente descritos; se a narração de Riobaldo não fosse, além de uma teia engenhosamente urdida, um tecido de casos, encontros, acontecimentos e cenas de insuspeita autenticidade porque vistos de seu ângulo de jagunço; e se a intervenção do sobrenatural não fosse tramada com arte das mais sutis, de modo que nunca entra em choque com o realismo psicológico (RONÁI, 2020, p. 35-36, grifo nosso).
Sob um viés, percebemos como “realidade viva e concreta” a indumentária rosiana,
assim, a descrição das peças masculinas na obra de Guimarães Rosa parece servir de
ferramenta para que esse “tecido de casos, encontros, acontecimentos e cenas” seja ilustrado
13
de forma verossímil, dando conforto ao nosso “realismo psicológico” quando na interpretação
das “gentes”-jagunços da trama. Portanto, notamos que a indumentária está na trama de forma
descritiva buscando delinear espaço, tempo e cultura reais, mas vai além tramando também o
próprio mistério cujo clímax se dá com a revelação do corpo morto de Diadorim, por
exemplo.
Dessa forma, as roupas da personagem sustentam também a barreira encontrada por
Riobaldo quanto ao amor por seu amigo, já que cobre o corpo de Diadorim transformando a
interpretação sobre ele, afligindo o protagonista quanto aos seus sentimentos: “De que jeito
eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas,
espalhado rústico em suas ações?!” (ROSA, 2015, p. 403, grifo nosso).
É justamente a partir desse questionamento de Riobaldo, sobre amar um homem
macho em suas roupas, que a ideia para essa análise começou. Despertou-nos curiosidade
saber o que seria esse macho em suas roupas. E de que forma essa macheza contribui para o
mistério acerca do corpo de Diadorim na trama, além dos fatores relativos à sua sexualidade e
identidade de gênero. Mas salientamos que não temos o intuito de focar nas personagens para
explicar as roupas. Logo, analisaremos as peças de indumentária para saber das personagens,
do coletivo e da individualidade que elas apontam. Portanto, nossas personagens sob foco são
as calças, os coletes, as camisas, o gibão, dentre outras.
Buscamos, com isso, desenvolver um estudo multidisciplinar, cujo diálogo se faz,
sobretudo, entre as áreas de Literatura Brasileira e Sociologia da Indumentária, valendo-nos
ainda, principalmente, de pontuações da Psicologia, História, Antropologia, Engenharia Têxtil
e Linguística.
Consideramos, também, aspectos sobre o próprio autor, João Guimarães Rosa, que não
só se inspirou na vestimenta da cultura sertaneja, com seus gibões de couro e demais
paramentas que percorrem a narrativa, mas deu papel protagonista ao vestuário em Grande
Sertão: Veredas, o que parecia ser comum até mesmo em sua realidade, com a atenção às
roupas notada desde a sua inseparável gravata borboleta — registrada tantas vezes em
fotografias e no poema-homenagem de Drummond1 — até a citação de peças em cartas, como
a que ele enviou, em 31 de março de 1952, a seu amigo Mário Calábria, antes de uma viagem,
quando acompanhou uma comitiva de vaqueiros e parecia não querer ficar de fora da moda do
sertão, como podemos ver no seguinte trecho:
1 Poema “Um chamado João”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado no Correio da manhã, no dia 22 de novembro de 1967, três dias após a morte de seu grande amigo João, autor da obra que aqui analisamos (DRUMMOND apud ROSA, 2015, p. 9-12).
14
Você vai para Roma, minha branda inveja esvoaça. Quando ouço ou penso Itália, minhalma se prostra... Mas amo também outras regiões, mais ásperas. Prova? Estou-me preparando para, daqui há dias, ir acompanhar, rústica, árdua, autenticamente, uma boiada brava, em percurso de 40 léguas, lá do sertão sagarânico, da fazenda da Sirga — entre buritizais belíssimos e chapadões de matagal inviolado — até a fazenda São Francisco, de um meu primo, lá perto de Cordisburgo. Já ando nos preparativos, arrumando mochila, cantil, roupa cáqui, pois serão 15 dias no ermo, a carne-seca com farinha de mandioca e café com rapadura, sob sol, poeira, lama e chuva. Odisseus (ROSA, 1952 apud COSTA, 2006, p. 29).
Percebemos que das prioridades elencadas pelo autor quando na preparação para a
viagem, que seria fonte de inspiração para a escrita de Grande Sertão: Veredas, há, logo após
a mochila e o cantil, ou seja, os indispensáveis compartimentos para carregar seus pertences e
a água, a roupa em cor cáqui, essencial para camuflagem na paisagem árida, além de moda
recorrente sertaneja, onde reinam as cores da terra nas vestimentas. Rosa, então, parecia
querer pertencer, se misturar através das roupas à terra e aos sertanejos, participar
integralmente da experiência na travessia.
Por isso, diante desse macho em suas roupas, tanto nas palavras de Riobaldo quanto
nas preocupações de viagem do autor, percebemos que se faz necessário compreender mais
profundamente tais roupas. Para isso, analisaremos o conceito de indumentária e sua
importância na história humana, desde item básico de sobrevivência até recorrente
demarcador social.
Nossa travessia, então, começa no campo antropológico, conhecendo os primórdios da
relação desenvolvida por peças feitas a partir de couro animal ou tecidas com fios vegetais,
como o linho e o algodão, observando também a relação sociológica de poder que já se
estabelecia nos primórdios da humanidade, ilustrada a partir de uma ou outra peça de
vestuário.
Logo, o próximo capítulo desta análise será dedicado a esmiuçar tanto o conceito de
indumentária e sua etimologia quanto a relação da roupa e a sobrevivência humana, além de
abordar o entrelaçamento social e psicológico ligados à mesma.
No campo dos estudos psicológicos, observaremos a pessoa e a sua expressividade,
que muitas vezes se dá pelas escolhas de certas indumentárias, podendo trazer à luz
discussões sobre gênero, identidade, imagem social constituída a partir da interação com o
outro.
Já no terceiro capítulo, inspiramo-nos em pesquisas desenvolvidas abarcando o
diálogo entre literatura brasileira e moda (no âmbito da indumentária), observando alguns
resultados alcançados em análises anteriores, descobrindo diversas possibilidades
15
interpretativas sobre a encenação de indumentária nas linhas literárias, como as feitas por
Geanneti Silva Tavares Salomon (2007) e Gilda de Mello e Souza (2005). Além disso,
exemplificaremos brevemente os enlaces de peças de vestuário a tramas urdidas por autores e
autoras brasileiras, pontuando cerca de um século, indo do romancista Machado de Assis a
poeta Ana Martins Marques.
E, no quarto capítulo, encontra-se o foco central dessa pesquisa: a análise sobre as
peças de vestuário masculino inscritas na narrativa de Grande Sertão: Veredas, de João
Guimarães Rosa. Nele, de forma geral, analisaremos as peças como protagonistas que se
costuram à travessia, tramando à narrativa de Riobaldo possíveis significados, decifrados a
partir de diversas áreas do conhecimento, conforme supracitado. Portanto, dentre o que se
pergunta, aqui, temos: o que os chapéus nos acenam? E os lenços, o que sinalizam? Os
sapatos caminham para qual rumo interpretativo? O que tramam as camisas? E o corpo sem a
roupa, ressignifica?
Antes de propor respostas ou realizar ainda mais perguntas, adentremos esta análise
pelo básico a saber, esmiuçando o que é a indumentária e qual a sua relação com o ser
humano, que já dura milhares de anos. Depois, conheceremos brevemente algumas veredas da
literatura brasileira que demonstram ser a indumentária interessante ferramenta de
significação de personagens e contextos históricos e sociais. Para, finalmente, buscar o fio da
meada que entrelaça urdume e trama sobre as peças masculinas costuradas à narrativa de
Grande Sertão: Veredas.
16
2 INDUMENTÁRIA — COSTURAR COSTUMES
(...) Agora — digo por mim — o senhor vem, veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra nada. (...) Mesmo que os vaqueiros duvidam de vir no comércio vestidos de roupa de couro, acham que traje de gibão é feio e capiau (ROSA, 2015, p. 33).
Poucos minutos após o parto, o bebê humano já se encontra vestido. Sai de sua bolha
placentária para a trama 100% algodão, num molde de vestuário que geralmente tem o nome
de body (ou seja, corpo, em português). O bebê, assim, recebe sua pele cultural: “vermelho
para garantir muita saúde”; “verdinho para ter sorte na vida!”; “azul porque é menino”. E é
realmente curioso pensarmos que, geralmente, a primeira roupa de enorme parcela da
população mundial venha a se chamar corpo, porque, assim sendo, o vestuário poderia
simbolizar o próprio sujeito, sua pele, seu formato físico, sua imagem, seu cheiro e sua
textura, para além da proteção que o mantém.
Além disso, a ação dos adultos vestirem o bebê logo que nascido denota
psicologicamente uma tentativa de iludir a criança para que ela ainda se sinta envolta na
barriga da mãe, conforme afirma o psicanalista John Carl Flügel (2008, p. 14): “Mal nasceu e
a criança é envolvida em roupas muito volumosas, como se nós quiséssemos lhe restituir
assim o abrigo confortável que ela acabou de perder ao deixar a matriz”. Num sentido mais
amplo, a pesquisadora e professora Ana Cláudia de Oliveira (2021) afirma:
Ao se confundir com a própria história humana, a roupa que veste o corpo está registrada em incontáveis manifestações, desde urnas funerárias, pinturas, estatuárias, desenhos até literatura, entre outras modalidades, atravessando os séculos, o que a torna um dos artefatos mais característicos da humanidade. Em suas figuratividades e plasticidades, animada pelo movimento ritmado em complexo imbricamento, a roupa carrega, na interação com o corpo e nas mais diversas sociedades, a própria história das pessoas no mundo pelos saberes e, mais ainda, pelos sentidos que põe em circulação (OLIVEIRA, 2021, p. 15, grifo nosso).
Assim, compreendemos que, para além do isolamento térmico, a indumentária é responsável
pela significação, através da semiótica, do ser humano como sujeito social.
Mesmo em algumas culturas indígenas, cuja tradição, às vezes, liga-se à nudez,
portanto, sem a peça body para o bebê que acaba de nascer, há a pintura e/ou assessórios
como adornos que significam socialmente cada indivíduo em suas comunidades, ou seja,
como afirma a pesquisadora Poliene Soares dos Santos Bicalho (2018),
17
A pintura corporal e a plumária, desde os tempos do Brasil Colônia até os dias atuais, representam uma segunda pele, a chamada pele social indígena, pois, ao vestirem os corpos com as tintas e penas, uma série de significados e sentidos imprescindíveis estão imbricados, atrelados às explicações de mundo e às continuidades mitológicas e identitárias do grupo étnico que as comportam (BICALHO, 2018, p. 90, grifo da autora).
Dessa forma, mesmo que haja enormes diferenças entre culturas quanto às suas formas
de expressão e motivações ligadas à indumentária, “(...) em todas as sociedades o corpo é
“vestido”, pois mesmo que as roupas sejam dispensadas, sempre há alguma camada de
indumentária (...) sobre a pele, seja através de tatuagens, pinturas corporais ou adornos”
(BONADIO apud BICALHO, 2018, p. 90).
Sabendo-se, portanto, que os estudos sobre a indumentária são tão múltiplos quanto os
diversos assuntos que permeiam a antropologia e a sociologia, já que cada comunidade pode
trazer aspectos bastante particulares acerca do corpo e do vestuário, e como toda pesquisa
exige um recorte, esclarecemos que o nosso foco de análise é a indumentária masculina
encenada na obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, publicada em 1956, na
qual
Uma pessoa idosa, recolhida em suas terras, narra os acontecimentos marcantes de sua juventude, vivida nas aventuras dos bandos armados que teriam agido no interior brasileiro — Minas Gerais, sul da Bahia, oeste de Goiás e Tocantins atual —, nos primeiros tempos da República, últimos anos dos séculos XIX e início do XX (UTÉZA, 2016, p. 23).
Logo, a indumentária que necessitamos compreender é, sobretudo, a entrelaçada à sociedade
brasileira, entre o final do século XIX e início do XX, de cultura cristã e rural, do sertão
— tempo e espaço nos quais se desenrola a narrativa de Riobaldo, o protagonista-narrador.
Para além da localização geográfica do chamado sertão, que Francis Utéza (2016, p.
23) recorta como “Minas Gerais, sul da Bahia, oeste de Goiás e Tocantins atual” ao se referir
ao espaço da narrativa rosiana, Walnice Nogueira Galvão (1972) descreve:
É o núcleo central do país. Sua continuidade é dada mais pela forma econômica predominante, que é a pecuária extensiva, do que pelas características físicas, como o tipo de solo, clima e vegetação. Embora uma das aparências do sertão possa ser radicalmente diferente de outra não muito distante — a caatinga seca ao lado de um luxuriante barranco de rio, o grande sertão rendilhado de suas veredas —, o conjunto delas forma o sertão, que não é uniforme, antes bastante diversificado. (...) É a presença do gado que unifica o sertão. Na caatinga árida e pedregosa como nos campos, nos cerrados, nas virentes veredas; por entre as pequenas roças de milho, feijão, arroz ou cana, como por entre as ramas de melancia ou jerimum; junto às culturas de vazante como às plantações de algodão e amendoim; — lá está o gado, nas planícies como nas serras, no descampado como na mata. As reses pintalgam qualquer tom de paisagem sertaneja, desde a sépia da caatinga no tempo
18
das secas até o verde vivo das roças novas no tempo das águas (GALVÃO, 1972, p. 25-27, grifo nosso).
Portanto, a indumentária foco de nossa análise é a que permeia a narrativa de Grande Sertão:
Veredas, que cobre o corpo da personagem brasileira sertaneja, combinando ou destoando
com a paisagem, reforçando-se que por se tratar de uma obra ficcional, e não documental,
abre-se espaço para elementos imaginários, além do descritivo com função de
verossimilhança.
Todavia, servindo a realidade como base para a criação literária, valemo-nos da
antropóloga Patricia Rieff Anawalt (2011, p. 8) para salientar que “já que a história do mundo
se caracteriza por um constante processo de migração e troca, não é surpresa que seja possível
rastrear influências entre diversas culturas”, justamente como desconfia o próprio Riobaldo:
“Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a
esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito misturado...”
(ROSA, 2015, p. 187).
Dessa forma, realidade e imaginação se misturam em nosso principal material de
análise, fazendo-se o recorte do tempo — final do século XIX e início do XX — e do espaço
— sertão brasileiro como “Minas Gerais, sul da Bahia, oeste de Goiás e Tocantins atual”
(UTÉZA, 2016, p. 23), incluindo-se ainda o interior de outros estados do Nordeste por onde
jagunços/cangaceiros circularam, como Pernambuco, Alagoas, Ceará e Sergipe — como um
ponto fixo do qual poderemos observar o que se aproxima e o que se afasta da realidade
geográfica e histórica dessa parte do Brasil, permitindo-nos, assim, despir os véus com os
quais a indumentária encobre a narrativa.
Ao utilizar diversas fontes, tanto nacionais quanto internacionais, será possível
perceber que a indumentária pode costurar em si uma diversidade de culturas num mundo de
tantas migrações, refletida por consequência na cultura brasileira sertaneja. E convém, ainda,
ressaltar o fato de que a maior parte das personagens de Grande Sertão: Veredas é composta
por jagunços, o que pode misturar ainda mais as significações entrelaçadas ao vestuário, já
que “O homem do sertão sempre impôs dificuldades à consciência urbana e civilizada que
sobre ele se debruça, a fim de estudá-lo” (GALVÃO, 1972, p. 18).
Mas o que é indumentária? — pergunta necessária antes de qualquer outro recorte,
afinal trabalhamos aqui com a escrita de João Guimarães Rosa, autor declaradamente
apaixonado pela língua, linguagem, idiomas, etimologia, as possibilidades de significados que
19
as palavras podem ter, como declarou de forma plural a Günter Lorenz (1973), numa das
conversas-não-entrevistas2 que deu na vida:
A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente, mas a quem até hoje foi negada a bênção eclesiástica e científica. Entretanto, como sou sertanejo, a falta de tais formalidades não me preocupa. Minha amante é mais importante para mim (LORENZ apud MARTINS, 2020, p. x). (...) amo a língua, realmente a amo como se ama uma pessoa. Isto é importante; pois sem esse amor pessoal, por assim dizer, não funciona. Aprendi algumas línguas estrangeiras apenas para enriquecer a minha própria e porque há demasiadas coisas intraduzíveis, pensadas em sonhos, intuitivas, cujo verdadeiro significado só pode ser encontrado no som original (LORENZ, 1973). Hoje, um dicionário é ao mesmo tempo a melhor antologia lírica. Cada palavra é, segundo sua essência, um poema. Pense só em sua gênese. No dia em que completar cem anos, publicarei um livro, meu romance mais importante: um dicionário. Talvez um pouco antes. E este fará parte de minha autobiografia (LORENZ apud MARTINS, 2020, p. x).
Conforme podemos ver, Rosa não só estudava as palavras para sua escrita, mas se
considerava íntimo delas — seu amante. Não à toa, portanto, traz em sua narrativa diversos
conceitos do que seria o verbete sertão, numa tentativa de significar e ressignificar o termo
para além da geografia, muitas vezes poeticamente: “Sertão. O senhor sabe: sertão é onde
manda quem é forte, com as astúcias” (ROSA, 2015, p. 28); “Sertão. Sabe o senhor: sertão é
onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar” (ROSA, 2015, p.
33); “O sertão é do tamanho do mundo” (ROSA, 2015, p. 71); “Sertão é isto, o senhor sabe:
tudo incerto, tudo certo” (ROSA, 2015, p. 136); “Sertão é isto: o senhor empurra para trás,
mas de repente ele volta a rodear o senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo
(ROSA, 2015, p. 238); “Sertão é o sozinho. Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito
do sertão? Sertão: é dentro da gente” (ROSA, 2015, p. 256).
Além disso, o autor era adepto a inventar palavras, resultando em neologismos
diversos, como:
Coraçãomente. Só o um-e-outra, um em-si-juntos, o viver em ponto sem parar, coraçãomente: pensamento, pensamor (PE [Primeiras Estórias] — IXI, 156/142). / ND [não dicionarizado]. Com todo o coração, em estreita fusão de sentimento. // O adv. [advérbio] cordialmente, já gasto, até burocratizado, não poderia satisfazer ao tom lírico desejado pelo A [autor]. Criou então essa forma insólita em que o
2 Rosa não gostava de entrevistas e declarou isso em diversas “conversas”, como a com seu interlocutor Lorenz, em 1965: “(...) peço-lhe que não use essa horrível expressão ‘entrevista’. Eu certamente não teria aceito seu convite se esperasse uma entrevista. As entrevistas são trocas de palavras em que um formula ao outro perguntas cujas respostas já conhece de antemão. Vim, como combinamos, porque desejávamos conversar. Nossa conversa, e isto é o importante, desejamos fazê-la em conjunto” (LORENZ, 1973).
20
substantivo radical é preservado em sua inteireza (MARTINS, 2020, p. 134, grifos da autora). Deamar. Deamar, deamo... relembro Diadorim (GSV [Grande Sertão: Veredas], 34/37); E Nhorinhá eu deamei no passado, com um retardo custoso (GSV [Grande Sertão: Veredas], 109/131). / ND [não dicionarizado]. Amar. // O pref. [prefixo] de- não acrescenta nenhuma noção, é enfatizante e constitui, no caso, uma inovação (MARTINS, 2020, p. 149, grifos da autora). Entreamor. Assim são lembrados em par os dois — entreamor — Drizilda e o Moço, paixão para toda a vida (T [Tutaméia] — III, 20/25). / ND [não dicionarizado]. Amor recíproco, correspondido. // Neologismo que intensifica a afetividade do subst. [substantivo] amor pelo acréscimo da ideia de reciprocidade (MARTINS, 2020, p. 190, grifos da autora).
A exemplo do mestre, cuja alta qualidade de criação literária compõe nossa valia, faz-
se fundamental investigar a palavra indumentária, tanto sua origem etimológica quanto seus
possíveis significados.
Temos, então, que o verbete presente no Grande Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa delimita os significados acerca de indumentária como:
1 arte relacionada com o vestuário 2 história do vestuário ou de hábitos relacionados com o traje em determinada época, local, cultura etc. 3 conjunto de vestimentas us. em determinada época ou por determinado povo, classe social, profissão etc. 4 o que uma pessoa veste; roupa, indumento, induto, vestimenta (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1608).
Já no viés etimológico, sabe-se que indumentária deriva do termo em latim
“indumentum”, que quer dizer “vestuário, revestimento” (CUNHA, A., 2010, p. 356), ou
ainda, “indumento + -ária” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1608), e que indumento traz,
dentre seus significados, “o que encobre, disfarça; envoltório, induto, indúvia, revestimento”
(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1608), tendo sua origem etimológica descrita como
“vestidura, traje, máscara, véu, envoltório, manto, cobertura” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p.
1608), logo, pensamos em tudo o que encobre, que impede a visão de ver o corpo através do
que o cobre, como um véu, um manto, uma máscara, uma pintura, conforme já citado, ou
mesmo uma neblina, como quis Rosa que Diadorim fosse para Riobaldo: “Digo. Em
Diadorim, penso também — mas Diadorim é minha neblina...” (ROSA, 2015, p. 32).
Dessa forma, poderia ser o Grande Sertão: Veredas um romance cujo corpo faz-se em
narrativa de uma história de amor trajado e, por isso, encoberto pela guerra? Seria essa
neblina, roupa líquida da natureza, no meio árido do sertão, a máscara que mantém o mistério
sobre o corpo vestido até o fim de Diadorim, homem, macho, aos olhos de Riobaldo? Seria a
obra uma narrativa que vai soltando seus véus, um a um, como em uma dança cuja plateia
21
leitora segue ansiosa pelo desvendamento do corpo/enredo? Seria, então, a indumentária uma
das principais ferramentas na construção literária mais consagrada de João Guimarães Rosa?
Antes de nos aprofundarmos nas linhas tecidas por Rosa, delongaremos na
investigação sobre a indumentária, cuja percepção de seu significado, através dos dicionários,
leva-nos a saber que desde sua origem até os dias atuais está relacionada a vestuário,
revestimento, roupa, indumento, ou seja, é tudo aquilo que alguém veste ou no qual é vestido,
todo artifício utilizado para encobrir parte ou todo o corpo, também se considerando o tempo
e o espaço, além das motivações ligadas a três motivos principais: proteção, pudor e
decoração/enfeite. Sobre isso, John Flügel (2008) afirma:
Os antropólogos e os historiadores nos dizem que as roupas têm três funções principais, que correspondem às necessidades da decoração, da proteção e do pudor. Os psicólogos que abordam os problemas do vestuário (e até o momento existem poucos que se deram ao trabalho de se dedicar a estas questões) advertiram inicialmente que de suas três funções, duas — a decoração e o pudor — são de natureza puramente psicológica; e que a terceira — a proteção — mesmo parecendo à primeira vista um assunto de fisiologia, corresponde, ela também, a necessidades não somente do corpo, mas também da alma. Notaram, em seguida, que há aí uma relação ambivalente entre as duas funções puramente psíquicas; o pudor e a decoração têm suas origens nos instintos opostos e nos conduzem a ações contrárias (FLÜGEL, 2008, p. 13).
Para entender melhor essas três motivações que costuram o ser humano à
indumentária, é necessário dissertar, brevemente, sobre a história do vestuário e seu aspecto
sociológico, esmiuçando-se tanto a necessidade de proteção para a sobrevivência da espécie
quanto as significações psicológicas entrelaçadas ao costume de se vestir por pudor ou
decoração/enfeite.
Flügel (2008) afirma que, de acordo com a cronologia da história da espécie Homo
sapiens, a primeira motivação identificada através de estudos arqueológicos e antropológicos
foi a decoração, já que nossos ancestrais evoluíram a partir das terras quentes do território
africano, assim não havia a necessidade fisiológica de proteção ao frio. A partir dessa
primeira aquisição cultural de se ornamentar, surgiu o pudor, como consequência da
comparação entre o que está ou não vestido, adornado, envolto em indumentária. E só por
fim, milhares de anos após, inerente às migrações humanas para territórios congelados ou em
períodos de glaciação é que nossa espécie desenvolveu vestimentas com o intuito de proteção
ao clima frio.
Todavia, a cultura modificou-se através do tempo e das práticas, observando-se hoje
uma ordem de motivação para a utilização de indumentária diversa da original de nossa
espécie. Assim, ao nascer, recebemos proteção; ainda na infância, perto dos 6 ou 7 anos de
22
idade, nos é ensinado o pudor; e, logo no início da adolescência, priorizamos a decoração
corporal (FLÜGEL, 2008).
Portanto, com a intenção de compreender um pouco mais acerca das motivações sobre
a cultura da indumentária humana, buscando, ainda, recortar os aspectos sobre o vestuário
sertanejo brasileiro do final do século XIX e início do XX, discorreremos nos três
subcapítulos, a seguir, sobre a proteção, o pudor e a decoração/enfeite, respectivamente, para
posteriormente alcançarmos sua significação ficcionalizada em Grande Sertão: Veredas, de
João Guimarães Rosa.
2.1 Ser cerzidor: costurar para (sobre)viver
Mas, aí, eu fiquei inteiriço. Com a dureza de querer, que espremi de minha sustância vexada, fui sendo outro — eu mesmo senti: eu Riobaldo, jagunço, homem de matar e morrer com a minha valentia. Riobaldo, homem, eu, sem pai, sem mãe, sem apego nenhum, sem pertencências. Pesei o pé no chão, acheguei meus dentes. Eu estava fechado, fechado na ideia, fechado no couro (ROSA, 2015, p. 172).
A história do ser humano moderno, ou Homo sapiens, se mistura com a história da
indumentária, com pesquisas antropológicas e arqueológicas demonstrando que o vestuário
não só o acompanha há milhares de anos, como é o responsável por sua sobrevivência, por
exemplo, em locais cujo clima lhe seja naturalmente prejudicial (ANAWALT, 2011, p. 80).
Sabe-se, então, que nossa espécie habita o planeta há pelo menos 100 mil anos a.C., evoluindo
na África e migrando para o que hoje é o Oriente Médio, a Europa e a Ásia.
Alguns dos primeiros registros de indumentária com função de proteção datam do
período Paleolítico Superior, quando o ser humano moderno migrou para a Europa e
enfrentou o final da última glaciação severa terrestre, assim,
Os períodos de glaciação tiveram profundo impacto na atividade humana. A solução para o problema de viver num ambiente extremamente frio foi criar roupas grossas que protegessem os membros, acompanhassem os contornos do corpo e cobrissem a cabeça. Esses trajes de pele animal eram provavelmente parecidos com os que os inuítes do Alasca ainda usavam no início do século XX (...). Tal analogia é reforçada por descobertas arqueológicas na Europa, como agulhas de chifre, pedra ou marfim, e também por indícios de roupas encontrados em sepulturas antigas (ANAWALT, 2011, p. 81, grifo nosso).
Logo, para suportar baixíssimas temperaturas extremas, desenvolveram-se técnicas de costura
de peles de animais, surgindo, assim, as peças de couro de vestuário que proporcionaram à
23
nossa espécie a possibilidade de sobrevivência no ambiente inóspito congelado. Sobre essa
matéria-prima, Ana Cláudia Silva Farias et al. (2014) afirmam que
O couro possui atributos de versatilidade, durabilidade e história que servem de diferenciais para concepção de um produto. A prática de curtimento do couro é uma atividade que vem acompanhando a humanidade desde a pré-história. Conta Laver (2001), que as peles de animais eram usadas para se protegerem das condições climáticas e como diferenciação social pelas primeiras civilizações, sendo curtidas por eles pela mastigação e salivação no intuito de deixarem maleáveis. Na história, encontram-se registros de civilizações como o Egito antigo, China, Babilônios, Hebreus, Árabes, que desenvolviam processos de curtimento artesanais e fabricavam objetos de couro, como elmos, escudos, calçados e gibões (FARIAS et al., 2014, p. 63).
É curioso notar que, mesmo após milhares de anos, ainda hoje o ser humano utiliza o
vestuário como artefato para sua própria sobrevivência, devido a fatores como contato com
materiais tóxicos ou mesmo pelas intempéries climáticas. Nessa linha, Peter Stallybrass
(2008, p. 47) relatou, em seu artigo “O casaco de Marx”, que no gelado inverno de Londres,
de 1850, o filósofo Karl Marx afirma ironicamente em carta a seu amigo e parceiro Engels:
“Há uma semana cheguei ao agradável ponto no qual não posso sair por causa dos casacos
que tive que penhorar”. O pesquisador explica que, sem os casacos, Marx acabara limitado,
pois não conseguia enfrentar a fria estação inglesa devido à sua condição frágil de saúde —
que, em 1883, o levou a falecer por causa da bronquite e laringite, doenças bastante agravadas
pelo ar frio — e, além disso, era regra do Museu Britânico que qualquer frequentador
estivesse “vestido em condições em que pudesse ser visto” (STALLYBRASS, 2008, p. 48).
Assim, notamos que, para além da própria sobrevivência devido ao clima hostil, a
indumentária de Marx o limitava socialmente, devendo estar “apresentável” para frequentar a
biblioteca do Museu onde começaria a escrever aquela que seria sua mais famosa obra, O
Capital. Sobre isso, Stallybrass (2008) ressalta que:
O casaco de inverno de Marx estava destinado a entrar e a sair da loja de penhores durante todos os anos de 1850. E seu casaco determinava diretamente que trabalho ele podia fazer ou não. Se seu casaco estivesse na loja de penhores durante o inverno ele não podia ir ao Museu Britânico. Se não pudesse ir ao Museu Britânico, ele não podia realizar a pesquisa para O Capital. As roupas que Marx vestia determinavam assim o que ele escrevia (STALLYBRASS, 2008, p. 48).
Tendo em vista as condições severas climáticas e a sobrevivência, percebemos que a
indumentária, assim como nas eras glaciais ou em parte da biografia de Marx, está presente no
cotidiano humano com o sentido de proteção. Sendo assim, observamos, no contexto de nossa
análise sobre o sertanejo brasileiro, o enfrentamento, sobretudo, de altas temperaturas sob um
24
sol escaldante e a árida paisagem espinhenta, como relata Euclides da Cunha (2016), em Os
sertões:
O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência, raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias — tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o Sol, arrastando de envolta no volver das estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. (...) O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de um guerreiro antigo exausto de refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta; apertado no colete também de couro; calçando as perneiras, de couro curtido ainda, muito justas, cozidas às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola; e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guarda-pés de pele de veado — é como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo Sol. É fosca e poenta. Envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias... (...) Este equipamento do homem e do cavalo talha-se à feição do meio. Vestidos doutro modo não romperiam, incólumes, as caatingas e os pedregais cortantes (CUNHA, E., 2016, p. 118-119, grifos do autor).
Com isso, percebemos, através do autor cuja obra inspirou, segundo Willi Bolle (2004, p. 26-
27), João Guimarães Rosa a escrever Grande Sertão: Veredas, que o sertanejo se vale de
artifícios ancestrais, com milhares de anos que o separam da origem da invenção da
vestimenta de couro como proteção ao clima, carregando consigo uma cultura milenar.
Além disso, afirmar-se pela indumentária como sujeito coletivo, do grupo social, no
âmbito dos jagunços rosianos, por exemplo, é também tática de sobrevivência, sendo o tipo de
traje de gibão, conforme citado na epígrafe deste capítulo, um símbolo de reconhecimento, de
pertencimento ao bando por seus membros. Uniforme tal qual o usado por soldados,
possibilitando-se o reconhecimento alheio como aliado ou inimigo já à primeira vista. Diane
Crane (2006) explica que
As roupas, como artefatos, “criam” comportamentos por sua capacidade de impor identidades sociais e permitir que as pessoas afirmem identidades sociais latentes. (...) Por séculos têm-se usado uniformes (militares, policiais ou religiosos) para impor identidades sociais aos indivíduos de forma mais ou menos voluntária (CRANE, 2006, p. 22).
Dessa forma, quando pensamos na travessia de Riobaldo em meio ao bando de jagunços em
seus múltiplos combates pelo sertão, notamos que o traje uniformizado além de lhe permitir a
sobrevivência ao clima quando seco na paisagem árida, o demarcava como inimigo ou aliado.
Além disso, tal traje de gibão, retomando o descrito por Euclides da Cunha (2016, p.
119), apresenta-se como uma “armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de
25
bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo Sol. É fosca e poenta”. Logo,
percebemos que o homem se mistura ao meio, camufla-se na terra da paisagem vermelho-
alaranjada do sertão, assim como o fazem soldados do exército em roupas com estampa
camuflada nas tonalidades em verde e marrom quando em território de densas florestas.
Porém, ao contrário da paisagem do sertão que em suas diversas veredas muda,
passando da “sépia da caatinga no tempo das secas até o verde vivo das roças novas no tempo
das águas” (GALVÃO, 1972, p. 27), o jagunço permanece árido, seco em seu gibão de couro,
poento, fosco como a terra, afinal assim também se tinha uma tática de sobrevivência, já que
“Em jagunço com jagunço, o poder seco da pessoa é que vale...” (ROSA, 2015, p. 77),
mantendo-se na travessia “fechado na ideia, fechado no couro” (ROSA, 2015, p. 172). Mas,
quando em guerra, o jagunço rosiano também se vale de táticas de camuflagem, com adereços
da própria natureza, confundindo o reconhecimento de inimigos:
O inimigo nunca se via, nem bem o malmal, na fumacinha expelida, de cada uma pólvora. Arte, artimanha: que agora eles decerto andavam disfarçados de mbaiá — o senhor sabe — isto é, revestidos com moitas verdes e folhagens. Adequado que, embaiados assim, sempre escapavam muito de nosso ver e mirar (ROSA, 2015, p. 292, grifo nosso).
As técnicas para enganar os inimigos, utilizadas pelos jagunços, para além das
representadas na literatura rosiana sobre a camuflagem, também podem ser encontradas na
história do mais famoso jagunço/cangaceiro brasileiro, o “Capitão Virgulino Ferreira da Silva,
vulgo Capitão Lampião”, conforme seu cartão de visitas anunciava (FRÓIS, 2021), afinal,
dentre as muitas excentricidades da indumentária de Lampião — que costumava ser,
paradoxalmente, um fugitivo que gostava de chamar a atenção, orgulhando-se de suas vestes
bordadas e coloridas, chamativas no meio da árida paisagem sertaneja —, havia o costume de
encomendar com artesãos seleiros calçados de couro, no estilo alpercatas, com uma função
estratégica: “O modelo se diferenciava dos outros por um detalhe importante: o solado
retangular, usado pelo cangaceiro para confundir a polícia — que diante das pegadas com
todos os lados iguais, não saberia se andarilho ia ou voltava” (FRÓIS, 2021).
A referência às vestimentas dos cangaceiros, nesta análise sobre jagunços rosianos,
faz-se válida por duas afirmações feitas por Maria Zaíra Turchi (2006), sendo a primeira delas
a constatação de que
O cangaceiro, comum no Nordeste brasileiro, é uma espécie de jagunço, que se caracteriza pela errância, fazendo parte de bandos itinerantes liderados por um chefe, sendo o mais famoso deles Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A semelhança
26
entre jagunços e cangaceiros manifesta-se na organização interna e nas regras de convivência dentro do bando, nas práticas de confisco e saque, nas estratégias de guerra, no tratamento aos inimigos, nos códigos de honra (TURCHI, 2006, p. 123, grifo nosso).
E a segunda inerente à própria escrita de Rosa, sobre a qual destaca:
(...) certamente o relato de Optato Gueiros, comandante das forças que mataram Lampião e liquidaram com o cangaço no Nordeste, pelas anotações marginais no exemplar do Acervo João Guimarães Rosa, sugeriu ao escritor mineiro meios de construir as ações dos jagunços em Grande sertão: veredas (TURCHI, 2006, p. 123).
Portanto, jagunços e cangaceiros se aproximavam pelo comportamento, bem como por sua
indumentária, tendo a mesma matéria-prima — o couro — e usos com motivação de proteção
bastante parecidos. Seria possível pensar que até mesmo pelos figurinos sociais semelhantes,
cangaceiros e jagunços acabassem significados como sinônimos. Além disso, é possível
considerar que o bando de Lampião serviu de inspiração para a escrita de Grande Sertão:
Veredas, inclusive pela data em que viveu o famoso cangaceiro cuja trajetória se deu na
mesma época em que os acontecimentos na travessia do jagunço Riobaldo são narrados, ou
seja, no início do século XX.
As vestimentas de couro, como podemos notar até aqui, envolvem o corpo humano
desde os primórdios para, sobretudo, o proteger. Mas, além dessa matéria-prima, outro
aspecto sobre indumentária e proteção é fundamental para compreender as encenações das
peças na obra de João Guimarães Rosa. Falemos, então, do valor “metafísico-religioso” da
indumentária, compreendendo a importância que o autor dava a simbologias que transcendem
o plano material do mundo. Sobre isso, Francis Utéza (2011), ao se orientar para a escrita de
sua obra JGR: Metafísica do Grande Sertão, traz o seguinte trecho de uma carta de Rosa
enviada a seu tradutor italiano:
Sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito e das fileiras de qualquer confissão ou seita; antes, talvez como o Riobaldo do Grande Sertão: Veredas, pertença eu a todas. E especulativo demais. Daí todas as minhas, constantes, preocupações religiosas, metafísicas, embeberem os meus livros. Talvez meio-existencialista-cristão (alguns me classificam assim), meio neoplatônico (outros me carimbam disto) e sempre impregnado de hinduísmo (conforme terceiros). Os livros são como eu sou. (...) Ora você já notou, decerto, que, como eu, os meus livros, em essência, são “anti-intelectuais” — defendem o primado da intuição, da revelação, da inspiração, sobre o bruxulear presunçoso da inteligência reflexiva, da razão, a megera cartesiana. Quero ficar com o tao, com o vedas e os Upanixades, com os Evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino, com Bergson, com Berdiaeff — com Cristo, principalmente. Por isto mesmo, como apreço de essência e acentuação, assim gostaria de considerá-los: a) cenário e realidade sertaneja: 1 ponto;
27
b) enredo: 2 pontos; c) poesia: 3 pontos; d) valor metafísico-religioso: 4 pontos (BIZARRI; ROSA, 1981, p. 57-58 apud UTÉZA, 2011, p. 10).
É possível saber, então, que as escolhas vocabulares de Rosa para sua obra perpassam
a característica religiosa, costurada a crenças de que certos objetos têm o poder de proteção,
como esculturas de santos ou cordões chamados escapulários, como o que Riobaldo carrega
pendurado sobre o peito mesmo após acreditar ter feito o pacto com o Diabo:
Comigo só o escapulário ainda ficou. Aquele escapulário, dito, que conservava pétalas de flor, em pedaço de toalha de altar recosturadas, e que consagrava um pedido de benção à minha Nossa Senhora da Abadia. Que, mesmo, mais tarde, tornei a pendurar, num fio oleado e retrançado. Esse eu fora não botava, ah, agora podia desdeixar não; inda que ele me reprovasse, em hora e hora, tantos meus malfeitos, indas que assim requeimasse a pele de minhas carnes, que debaixo dele meu peito todo torcesse que nem pedaço quebrado de má cobra (ROSA, 2015, p. 360).
Diante desse trecho, é preciso saber que o escapulário é um tipo de amuleto, podendo
ser descrito como um cordão com dois pingentes, contendo a imagem de algum santo ou
santa, a quem o devoto pede proteção. Pendura-se no pescoço, deixando-se, geralmente, um
dos pingentes no centro do peito, e o outro, nas costas, de forma a estar protegido pela
santidade de tudo o que possa lhe ferir pela frente ou por trás.
Poderíamos pensar que a utilização desse tipo de indumentária, por sua marca cultural,
se configura pela motivação da proteção — metafísica, espiritual, religiosa —, bem como as
vestes de couro protegem fisicamente o ser humano do frio e da aridez do ambiente.
Essa preocupação metafísica também se entrelaça à indumentária cangaceira,
motivando os integrantes dos bandos a bordar amuletos em suas vestes no formato de estrelas
de couro de quatro, seis ou oito pontas, além da flor-de-lis e a cruz de malta, todas carregando
simbologias de proteção a quem usasse a vestimenta, assim,
A roupa também era uma espécie de blindagem mítica. Funcionava como um amuleto da sorte e de defesa. Quando um cangaceiro chegava em uma casa, por exemplo, a vítima do assalto não o via com bons olhos, odiava este homem, por isso os amuletos serviam como neutralizadores do mau-olhado (MILAN, 2010).
Sobre isso, ressaltam Acom, Bosak e Moraes (2019):
O uso de roupas para a proteção está associado à manutenção da temperatura corporal: contra os excessos e intempéries do frio, vento e sol. Mas a proteção, de acordo com Flügel (1966), pode ser espiritual também, nas crenças relacionadas aos
28
usos de amuletos ou patuás, que servem de adorno e identificam culturas (ACOM; BOSAK; MORAES, 2019, p. 192).
Logo, a indumentária envolve o corpo humano por sua motivação de proteção, sendo
indispensável à sobrevivência e servindo também de conforto mental, o que, como vimos até
aqui, se faz presente na narrativa de João Guimarães Rosa e na trama sertaneja de Grande
Sertão: Veredas. Mas, além desta motivação para se vestir, Rosa ilustra também a
necessidade humana em encenar um papel social, exigindo-se para isso seu figurino do
cotidiano. Resta-nos, por isso, compreendermos para além da proteção, percorrendo as
motivações sobre o pudor e a decoração.
2.2 Descomposto nu: cultura encobridora
Mas jamais ninguém ficasse nú-de-Deus ou indecente descomposto, no meio dos outros, isso não e não (ROSA, 2015, p. 142).
Só sentimos pudor pela nudez após aprendermos sobre a importância de se estar
encoberto, vestido. É a cultura que instaura a percepção sobre o aspecto social de um corpo
vestido em relação ao nu. Quando observamos as crianças que arrancam suas roupas ou vivem
a perder seus sapatos, notamos que somente com o passar dos anos é que elas vão aceitando a
indumentária. Nesse sentido, segundo John Carl Flügel (2008),
(...) os adultos impõem à criança hábitos que correspondem às suas próprias ideias de higiene, de moral e de estética, mais do que às necessidades e desejos da própria criança. Temos boas razões para acreditar que esta não aceita de bom grado, no início, todos os detalhes do regime que lhe é imposto. Não sabemos se a criança aprecia a matriz artificial que lhe fornecemos para seus primeiros dias. Mas sabemos bem que, um pouco mais tarde, ela sente a restrição que as roupas impõem, e que fica contente de se desembaraçar delas, regozijando-se da liberdade que possui no momento de dormir ou de tomar seu banho. Suas roupas lhe dão mais aborrecimento que prazer (FLÜGEL, 2008, p. 14).
Consequentemente, ainda segundo este autor, é a partir das percepções e experiências
infantis que um adulto vai, posteriormente, ter uma boa ou má relação com a indumentária.
Haverá aqueles que sempre se sentirão numa prisão enquanto vestidos e, por isso, se
apresentarão mal vestidos por não se interessarem pela função decorativa do vestuário,
concentrando-se, sobretudo, na necessidade de proteção ou nas exigências sociais quanto ao
pudor. Em contrapartida, haverá indivíduos cujo quesito fundamental é a decoração, o adorno,
o enfeite, mesmo que considerem as regras sobre pudor ou as exigências climáticas.
29
Sobre o pudor, Acom, Bosak e Moraes (2019) afirmam:
(...) parece um dos atributos mais fracos se não o pensarmos diretamente relacionado com o relativismo cultural de cada meio. Em um primeiro olhar, pensamos na atual civilização ocidental, em que não é aceito andar nu, assim como apresentar-se com roupas de baixo. Por mero convencionalismo as pessoas usam trajes de banho em público, mesmo que cubra menos certas partes do corpo do que uma calcinha, por exemplo. Em muitas culturas a vergonha é mais associada ao fato de eu não possuir certo adereço ou elemento tradicional, do que ao ato de exibir o corpo nu, que pode ser vergonhoso ou agressivo no mundo ocidental. “Não há qualquer conexão essencial entre indumentária e pudor, uma vez que cada sociedade tem sua própria concepção de traje e comportamento recatado” (ROACH; EICHER apud BARNARD, 2003, p. 84) (ACOM; BOSAK; MORAES, 2019, p. 191-192).
Assim, ao se debruçarem sobre essa temática, as pesquisadoras percebem que “O uso da
indumentária não surge de nenhum senso inato de pudor, mas o pudor resulta de hábitos
costumeiros de indumentária e ornamentação do corpo e de suas partes” (ACOM; BOSAK;
MOARES, 2019, p. 192).
A partir disso, percebemos que tanto os estudos da psicologia quanto os da sociologia
da indumentária destacam que o pudor quanto ao corpo é um resultado cultural, advindo pela
comparação com o que está sob indumento e reforçado principalmente por crenças religiosas.
Nesse sentido, é importante considerarmos o viés religioso do pudor, já que Riobaldo,
nosso protagonista-narrador, traz em sua contação inúmeras referências que apontam para um
sujeito religioso, cujo tempo se ocupa entre Deus e o Diabo, além de inúmeros santos e suas
diversas rezas, como ilustrado no trecho:
Hem? Hem? O que mais penso, testo e explico: todo-o-mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião: para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral. Isso é que é a salvação-da-alma... Muita religião, seu moço! Eu cá, não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... Uma só, para mim é pouca, talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho a certo; e aceito as preces de compadre meu Quelemém, doutrina dele, de Cardéque. Mas, quando posso, vou no Mindubim, onde um Matias é crente, metodista: a gente se acusa de pecador, lê alto a Bíblia, e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar — o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu! Bofe! Detesto! O que sou? — o que faço, que quero, muito curial. E em cara de todos faço, executado. Eu? — não tresmalho! Olhe: tem uma preta, Maria Leôncia, longe daqui não mora, as rezas dela afamam muita virtude de poder. Pois a ela pago, todo mês — encomenda de rezar por mim um terço, todo santo dia, e, nos domingos, um rosário. Vale, se vale. Minha mulher não vê mal nisso. E estou, já mandei recado para uma outra, do Vau-Vau, uma Izina Calanga, para vir aqui, ouvi de que reza também com grandes meremerências, vou efetuar com ela trato igual. Quero punhado dessas, me defendendo em Deus, reunidas de mim em volta... Chagas de Cristo! (ROSA, 2015, p. 25-26).
30
Da mesma forma, como vimos na citação feita no subcapítulo anterior — acerca do
aspecto metafísico —, sabemos que o autor, João Guimarães Rosa, declara-se um sujeito
religioso:
Sou profundamente, essencialmente religioso, ainda que fora do rótulo estrito e das fileiras de qualquer confissão ou seita; antes, talvez como o Riobaldo do Grande Sertão: Veredas, pertença eu a todas. E especulativo demais. Daí todas as minhas, constantes, preocupações religiosas, metafísicas, embeberem os meus livros. (...) Quero ficar com o tao, com o vedas e os Upanixades, com os Evangelistas e São Paulo, com Platão, com Plotino, com Bergson, com Berdiaeff — com Cristo, principalmente (BIZARRI; ROSA, 1981, p. 57-58 apud UTÉZA, 2011, p. 10, grifo nosso).
Analisando, então, sob a ótica cristã católica, o Padre Márcio Leandro Fernandes
(2018, grifo nosso), da Comunidade Canção Nova, afirma que a Igreja católica ensina que “o
pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar
escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os
gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união”. Assim, o líder
religioso explica ainda que, para além do modo de vestir, o pudor está relacionado com o
comportamento, é ligado à modéstia, pois “mantém o silêncio ou certa reserva quando se
entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição” (FERNANDES, 2018). Tendo
o foco de seu artigo relacionado ao corpo e à sexualidade, traz o pudor como algo esperado do
cristão, e que ele o tenha como um sentimento positivo, que o protege das “imoralidades
sexuais” (FERNANDES, 2018).
Já a Bíblia, obra fundadora das religiões cristãs, afirma, logo no início do livro
Gênesis, que Deus criou a primeira mulher, Eva, para ser companheira do primeiro homem,
Adão, deixando-os nus, assim, “Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não
sentiam vergonha” (BÍBLIA SAGRADA, 2005, Gênesis 2, 25). Porém, Eva e Adão comeram
a fruta, que Deus havia lhes proibido, da “(...) árvore que dá o conhecimento do bem e do
mal” (BÍBLIA SAGRADA, 2005, Gênesis 2, 17), e por isso “(...) os olhos dos dois se
abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para
usar como tangas” (BÍBLIA SAGRADA, 2005, Gênesis 3, 7, grifo nosso). Deus, ao
descobrir que o homem e a mulher estavam vestidos e com medo por se perceberem nus, os
questionou e soube que haviam lhe desobedecido. Então, a divindade castigou ambos,
expulsando-os do Jardim do Éden, sob penalidades como o trabalho duro da lavoura ao
homem e as dores do parto à mulher, mas não sem antes demonstrar que também era alfaiate,
31
assim “(...) o SENHOR Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se
vestirem” (BÍBLIA SAGRADA, 2005, Gênesis 3, 21).
Dessa forma, seria possível pensarmos que o viés cristão sobre o pudor está
relacionado à dicotomia do bem e do mal, onde a nudez — natural do ser humano — é
sinônimo de mal, pois gera vergonha, enquanto vestir-se parece ser algo do bem, valorizado
não como proteção contra o clima ou toxinas, mas como um artifício que cubra o corpo,
sobretudo as genitálias, no caso do uso de tangas, o que aponta para a conclusão sobre a
“imoralidade sexual” supracitada.
Destacamos, ainda, o fato curioso de que a ordem do tipo de matéria-prima, vegetal e
animal, para as roupas humanas, nos acontecimentos em Gênesis, é a mesma das descobertas
dos estudos arqueológicos e antropológicos, ou seja, primeiro o ser humano se valeu de
plantas para se vestir, como as fibras de cânhamo, algodão e linho, e, posteriormente,
protegeu-se em peles de animais, devido aos períodos de glaciação enfrentados enquanto em
migração pela região onde hoje é a Europa.
Porém, ao contrário da visão bíblica, conforme veremos no próximo subcapítulo, a
primeira motivação para se vestir com matéria-prima vegetal não parece ter partido de frutas
proibidas, ou seja, do pudor, mas da vaidade, que impulsiona os seres humanos, desde os
primórdios de nossa existência, a decorar seus corpos, enfeitarem-se, adornarem-se para
significar no meio social.
2.3 “O senhor ponha enredo”: o figurino do cotidiano
Porque não narrei nada à-tôa: só apontação principal, ao que crer posso. Não esperdiço palavras. Macaco meu veste roupa. O senhor pense, o senhor ache. O senhor ponha enredo (ROSA, 2015, p. 256).
A indumentária encena o figurino do ser humano em todas as culturas. Em nossas
vestimentas, estão expostas informações importantes sobre quem somos e nossos costumes.
Para além da necessária motivação de proteção, alinhavamos às nossas vestes conteúdos que
podem bordar em nossos corpos linhas e cores da sociologia.
Sendo a indumentária importante à significação sociológica humana, é interessante
perceber que das três motivações — proteção, pudor e decoração/enfeite — a que parece ter
inaugurado a relação do corpo com a indumentária é a decoração, responsável por suprir a
necessidade do sujeito de significar-se, encenar socialmente, assim,
32
(...) a indumentária situa-se ao lado da linguagem e da arte como prática significante e, como objeto, faz parte do conjunto de instrumentos por meio dos quais o homem interfere no ambiente natural, domínio da cultura material. A produção de sentido se dá através de sua estética, expressa pelas matérias, cores e formas empregadas na construção da indumentária e, ao mesmo tempo, pela ligação intelectual e afetiva que se estabelece entre o traje e seu usuário (VOLPI, 2014, p. 72, grifo nosso).
Percebemos, assim, que tal motivação está presente em todas as culturas mundiais,
conforme podemos ver no trabalho da antropóloga Patricia Rieff Anawalt (2011), em seu
livro A história mundial da roupa, no qual expõe o resultado de sua pesquisa que a levou a
percorrer todos os continentes, nos quais estudou e catalogou as roupas das sociedades
originárias de cada lugar, demonstrando que em todas há a preocupação de enfeitar-se,
ornamentar-se, significar-se diante do outro. Nesse sentido, John Carl Flügel (1966) afirma:
A primazia da proteção, como motivo para o uso de roupas, tem poucos defensores; estudantes de humanidades parecem relutantes em admitir que uma instituição tão importante como a roupa tenha tido uma origem tão puramente utilitária. (...) o exemplo de certos povos primitivos existentes, notadamente os habitantes da Terra do Fogo, mostra que a roupa não é essencial, mesmo num clima úmido e frio. Neste assunto, as conhecidas observações de Darwin acerca da neve derretendo nos corpos destes (...) parecem ter mostrado à alarmada geração do século XIX que seus confortáveis agasalhos, por mais cômodos e desejáveis que pudessem parecer, não eram inexoravelmente requeridos pelas necessidades da constituição humana. Ao pudor, além de parecer gozar da autoridade da tradição bíblica, foi concedido o primeiro lugar por uma ou duas autoridades no campo puramente antropológico. A grande maioria dos estudiosos tem, sem hesitação, considerado o enfeite como o motivo que conduziu, em primeiro lugar, à adoção de vestimentas (...) Os dados antropológicos demonstram principalmente o fato de que entre as raças mais primitivas existem povos sem roupa, mas não sem enfeites (FLÜGEL, 1966, p. 13 apud ACOM; BOSAK; MORAES, 2019, p. 191, grifo nosso).
Dessa forma, historicamente é possível notar que anterior às roupas de couro, adotadas
principalmente como item de sobrevivência — conforme vimos no primeiro subcapítulo —,
surgiram as peças tecidas a partir de matéria-prima vegetal, com fios de cânhamo, linho ou
algodão. Esses tecidos tinham, sobretudo na Mesopotâmia (6500 a.C.), a função sociológica
de demarcar o status diferenciador de fases da vida e de classes sociais, conforme descobertas
arqueológicas:
Aparentemente, as roupas de fibras vegetais mais antigas não tinham nenhuma relação com aquecimento ou pudor, e sim com a sinalização de um estágio da vida, especialmente o início da fertilidade e/ou casamento. Nem todas, entretanto, chamam a atenção para os órgãos reprodutores do corpo. A evidência mais antiga de roupa de fibra vegetal, cujos fragmentos foram encontrados na caverna Nahal Hermar, em Israel, data de 6500 a.C. e indica a confecção de um saco de linho não
33
tecido, emalhado com agulha e contendo botões de pedra, possivelmente usado como chapéu cerimonial. De fato, um dos primeiros trajes feitos de fibra vegetal parece ter sido o chapéu (...). Normalmente, a função aparente era anunciar a idade ou o status da pessoa (ANAWALT, 2011, p. 18, grifo nosso).
Assim, temos que a indumentária e o corpo humano se ligam historicamente há
milhares de anos. E o uso de vestuário transcende a necessidade com sentido único de
sobrevivência, afinal, em pinturas e esculturas encontradas por diversos arqueólogos e
analisadas por antropólogos ao redor do mundo é possível notar toucas trançadas na cabeça de
corpos femininos nus em peças esculpidas por motivação erótica; múmias com roupas
estampadas em cores vivas para se destacar no grupo/tribo; joias variadas e exuberantes feitas
com metais e pedras preciosas para rainhas egípcias e faraós; cocares de penas coloridas dos
indígenas da América do Sul; humanos da era glacial enterrados com suas grossas roupas de
couro e uma série de pulseiras e colares de uma só cor indicando seu pertencimento à
determinada tribo/comunidade (ANAWALT, 2011), dentre vários outros exemplos.
Percebemos, portanto, que a indumentária era (e ainda é) um dos mais eficientes
demarcadores sociais, alinhando a cada objeto/peça significados culturais, o que explica o
costume dos indivíduos de adornarem seus corpos em praticamente todas as sociedades, seja
com um cocár, um colar, um chapéu ou desenvolvendo para suas roupas tecidos estampados
com símbolos representativos de famílias, por exemplo.
O pesquisador Frédéric Godart (2010) cita:
Para Simmel et al. (1998), o “adorno” permite aos indivíduos exibir-se mutuamente e, portanto, ligar-se por meio de considerações estéticas. Ele é a parte “artificial” da aparência: trata-se de uma manipulação dos sinais relativos aos vestuários ou aos cosméticos, que visam veicular uma determinada impressão (GODART, 2010, p. 35).
Nesse sentido, o filósofo Roland Barthes (2009) observa:
Quanto ao corpo humano, Hegel já sugerira que ele mantém uma relação de significação com o vestuário: como sensível puro, o corpo não pode significar; o vestuário propicia a passagem do sensível ao sentido; digamos que ele é o significado por excelência (BARTHES, 2009, p. 382, grifo nosso).
O que é possível perceber, inerente aos estudos das Ciências Sociais e Humanas, é que
o ser humano se tece trançado à indumentária para viver, seja por sobrevivência, por status,
para reprodução, sedução, para ser singular ou mostrar pertencimento a um grupo, para
34
demarcar oposição entre grupos (como fazem os soldados uniformizados em guerras, por
exemplo).
O corpo necessita do indumento para significar em relação à sua cultura ou mesmo
pela singularidade no grupo, para ser lido pelos interlocutores como uma primeira mensagem
(ou até mesmo a única transmitida, como no caso dos fósseis humanos encontrados), logo,
“Ao escolher as roupas e os acessórios, os indivíduos reafirmam constantemente sua inclusão
ou sua não inclusão em certos grupos sociais, culturais, religiosos, políticos ou ainda
profissionais” (GODART, 2010, p. 36).
Inerente a tal constatação, percebemos que a roupa de couro, citada no subcapítulo
anterior, do sertanejo/jagunço brasileiro, vai além da sobrevivência na travessia pela paisagem
por vezes árida: a indumentária inteira de couro do humano jagunço o coletiviza e até mesmo
o animaliza, como rebanho, no espaço cuja cultura da criação de gado é marcante.
Assim, vê-se em Grande Sertão: Veredas, para além da função de proteção da roupa, a
desumanização do sujeito, o bicho com “seu couro” exposto ao sol a percorrer o sertão, uma
espécie de boi-humano, como um minotauro, no romance em que na
(...) percepção do narrador-personagem, bois e boiadas lhe servem para a construção de imagens que modelem seus chefes e companheiros, bem como as relações entre eles. Os jagunços são vistos como rebanho e só os chefes merecem imagens individuais. (...) para os jagunços, a boiada; para os chefes, bois individuais; só para os dois superchefes o touro: para Joca Ramiro, “grande homem príncipe (GSV, 18), “imperador em três alturas” (GSV, 170), e para Medeiro Vaz, “o rei dos gerais” (GSV, 76,62, 285), ou seja, para o chefe maior da banda de lá do Rio e para o chefe maior da banda de cá do Rio (GALVÃO, 1972, p. 28-29).
Dessa forma, a indumentária dos jagunços transcende a significação do homem em seu
ambiente e tempo, e, apesar de descrita de forma bastante fragmentada, como tudo no
romance de Rosa, nos convida, pela leitura, a assistir à encenação da sociedade pecuarista
brasileira, onde os seres uniformizados não só se vestem de boi (com seu couro) como se
transformam em rebanho, atravessam o sertão juntos, resistindo sob a grossa pele, enquanto
seu sangue e carne servem à terra:
Olhe: jagunço se rege por um modo encoberto, muito custoso de eu poder explicar ao senhor. Assim — sendo uma sabedoria sutil, mas mesmo sem juízo nenhum falável; o quando no meio deles se trança um ajuste calado e certo, com semêlho, mal comparando, com o governo de bando de bichos — caititu, boi, boiada, exemplo (ROSA, 2015, p. 145).
35
Notamos, então, que o aspecto uniformizador da indumentária jagunça se faz
importante ferramenta para a metaforização do humano em bicho, em boiada. Além disso, o
comportamento de bando, como rebanho, reforça a imagética quando imaginamos a cena com
os sujeitos juntos, vestidos iguais, atravessando as veredas do grande sertão.
Devido, justamente, a essa constatação sobre a estética sertaneja, foi que o já citado
Capitão Virgulino Lampião, o mais famoso jagunço/cangaceiro, designer de sapatos de solado
retangular para enganar seus inimigos, inovou radicalmente subvertendo o “uniforme” inteiro
de seu bando, conforme retrata a pesquisadora Camila Fróis (2021):
Além da capacidade de escapar com maestria dos homens da lei e apavorar seus inimigos, Virgulino ficou conhecido por muitos outros feitos. Um deles é o fato de ter criado um “dress code” para o seu bando que logo o tornaria um símbolo cultural de todo o sertão. Ao entrar para a história, o rei do cangaço eternizou seu apurado senso estético. (...) Lampião sabia que construir uma auto-imagem (sic) autêntica ajuda na comunicação com o outro e transmite confiança. Vestir-se bem, portanto, era essencial para triunfar. Mais do que cuidar do estilo, porém, era preciso divulgá-lo. Ainda distante da era das redes sociais, o líder contratava retratistas e posava com lenços de seda no pescoço, broches e caros anéis nas mãos, fosse ao lado de sua companheira Maria Bonita, com espingarda em punho, lendo a bíblia ou dançando xaxado. (...) Com a fama, seus coletes, broches, cartucheiras e embornais bordados viraram símbolos de distinção, colocando em questão — já no início do século passado — a ideia de um Nordeste rude e sem sofisticação. (...) os cangaceiros pós Lampião vestiam-se de forma colorida, cobertos por adornos de ouro e sabiam confeccionar toda a sorte de objetos e vestimentas sem que, por isso, se questionasse sua virilidade. “O ‘rei do cangaço’ costurava suas roupas e a de seus afilhados e bordava à máquina com perfeição, orgulhando-se da sua habilidade. No auge dos anos 30, seu bando possuía preocupações estéticas mais frequentes e profundas que as do homem urbano moderno”, afirma o autor [Frederico Pernambucano de Mello] (FRÓIS, 2021).
Virgulino era subversivo em sua forma de pensar-se cangaceiro. Através do minucioso
cuidado estético, entrou para a história brasileira deixando seu legado de resistência, mas
também sua primorosa indumentária, servindo de fonte de inspiração para inúmeros artistas,
dentre estilistas, figurinistas e escritores. O “rei do cangaço” exigia que todos os integrantes
de seu bando usassem a indumentária de acordo com os seus critérios estéticos exigentes,
conforme Camila Fróis (2019) afirmou. E essa não era uma tarefa simples já que
Andar no sertão nordestino com uma roupa que pesava cerca de 30 quilos pode parecer loucura, ainda mais em uma época em que 80% dos deslocamentos eram feitos a pé. Mas para os cangaceiros, que não se importavam com o desconforto, com cansaço ou mesmo com a morte, o importante era se vestir bem, com uma estética tão peculiar que poderia facilmente identificá-los. Tanto foi assim que as várias camadas de roupas e acessórios que compunham o figurino de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, não perdiam em nada no quesito peso às armaduras
36
dos cavalheiros (sic) medievais ou às couraças dos samurais japoneses (MILAN, 2010, grifo nosso).
Logo, notamos que significar em seu meio era mais importante do que o conforto para
o “rei do cangaço”, por isso “Foi com Lampião que os cangaceiros passaram a usar roupas
mais requintadas, com bornais forrados de bordado a tal ponto que o tecido desaparecia
debaixo das linhas coloridas” (MILAN, 2010).
O vestuário, inerente à história de Lampião, realiza sociologicamente a significação do
sujeito em seu meio. Pautando-se pela semelhança ou pela diferença, os seres humanos, desde
os primórdios, carregam em seus corpos indicativos psicológicos, significantes semióticos
sobre si e sobre a sociedade na qual estão inseridos. Ao citarmos Lampião, buscamos dialogar
com as múltiplas estéticas que permeiam a história do sertão brasileiro, visando esmiuçar,
posteriormente, se a extravagância dos cangaceiros nordestinos se reflete na indumentária
rosiana, mesmo que essa à primeira vista carregue sua característica animalizadora e
camufladora do ser humano.
No capítulo 4, portanto, discorreremos sobre a indumentária das personagens de
Grande Sertão: Veredas. Antes, porém, interessa-nos percorrer alguns caminhos da pesquisa
sobre a indumentária na literatura brasileira, analisados cientificamente, para nos embasar nas
travessias anteriores e observar exemplos do uso de indumentos como estratégia de escrita
literária de diversos autores, em variadas épocas e espaços.
37
3 LITERATURA E INDUMENTÁRIA: TRAMAS TECIDAS
A guerra fina caprichada, bordada em bastidor (ROSA, 2015, p. 290).
A indumentária é o adorno do corpo e a literatura, o enfeite da palavra — dentre
outros aspectos. Duas formas estéticas de expressão da identidade do ser humano. Ambas são
construções da subjetividade do sujeito no mundo. Não por acaso, a indumentária e a
literatura estão costuradas à sociologia, psicologia, cultura, ao corpo e pensar humanos, à
linguagem e até entre si, em sua etimologia que aponta para a mesma origem de “texto” e
“têxtil”, sabendo-se que a tecelagem é mais antiga que a escrita na história da humanidade.
A própria superfície do tecido possui uma carga de significação inerente, já que o termo “intertexto” se refere ao entrelaçamento dos fios no ato de tecer. “Texto” e “têxtil” são palavras nascidas do mesmo radical e se referem a um fazer cultural que o ser humano exerce pela palavra e pelo fio. Expressões como “tecer comentário”, “costurar os sentidos de um texto” e “arrematar ideias” revelam a matriz simbólica comum da literatura e da tecelagem, além das possíveis associações entre trama e enredo, novelo e novela, o fio da meada, tanto no ato de escrever quanto no de bordar (ROTHBERG, 2012, p. 53, grifo nosso).
A literatura entrelaça diversos tipos de sociedades à ficção. A partir do trabalho
estético de autores, constitui sujeitos fragmentados que se realizam pela leitura. Já a
indumentária, cria narrativas diversas e diárias à interpretação semiótica sobre o sujeito
vestido, adornado. Mas e quando a indumentária é parte da trama literária? O que é possível
interpretar do adorno grafado, da encenação da ornamentação corporal pela palavra
esteticamente bordada?
Conforme vimos no capítulo anterior, as significações da indumentária para o ser
humano perpassam sempre motivações sociológicas e psicológicas que vão além da mera
sobrevivência. Segundo Anawalt (2011, p. 81), mesmo quando as roupas de couro dos fósseis
encontrados em locais onde houve períodos extremos climáticos de glaciação apontavam para
a utilização dessa indumentária com motivação de proteção, foi possível constatar que tais
indivíduos utilizavam uma grande quantidade de colares e pulseiras sinalizando o
pertencimento a um grupo, uma comunidade. Além disso, eles foram enterrados
completamente vestidos, o que os antropólogos consideraram ser uma sinalização de afeto e
exclusividade de suas roupas, já que cada peça era feita costurada de acordo com o contorno
de cada corpo, além de crenças ligadas à vida após a morte.
38
Assim, a indumentária, para além de sua função protetiva, carrega consigo, há
milhares de anos, histórias. E foi justamente pelas peças encontradas em fósseis que muito da
trajetória humana se explicou ou sobre a qual se criaram possíveis narrativas. Dessa forma, a
indumentária exerce também o papel de memória material humana, narrativa semiótica lida
pelos mais diversos pesquisadores e, diariamente, por qualquer pessoa inserida em um meio
social.
Nesse sentido, o professor Peter Stallybrass (2008, p. 10-11), em sua pesquisa sobre
roupa e memória, ressalta que “A roupa tende pois a estar poderosamente associada com a
memória ou, para dizer de forma mais forte, a roupa é um tipo de memória”. Como exemplo,
o autor conta que os remendos feitos em casacos, no século XIX, eram chamados de memória,
porque sinalizavam o desgaste do tempo nas roupas, assim como o envelhecimento do corpo.
Esse fato recorda o que Anawalt (2011) relata em sua pesquisa ao perceber que só seria
possível tecer narrativas históricas sobre algumas sociedades a partir dos vestígios de tecidos
encontrados que indicavam o uso de chapéus ou saias, mas cujos corpos humanos já não se
encontravam nem mesmo fossilizados.
Assim, poderíamos chegar à mesma conclusão que Stallybrass (2008, p. 10-11) ao
afirmar que “Os corpos vêm e vão: as roupas que receberam esses corpos sobrevivem. (...) As
roupas recebem a marca humana”. Essa marca humana nas roupas possibilita criar narrativas
históricas e sociológicas, e mesmo fictícias, sobre a própria existência humana. Logo, a
indumentária, isolada da literatura, já carrega em si muitas vozes, entrelinhas permeadas de
memórias que nelas se tramam.
Sendo um significante tão potente, acaba por não ser raro encontrar vocábulos que
remetam à indumentária em tramas literárias. Parece ser, assim, uma importante ferramenta de
caracterização psicológica e sociológica de personagens que, além de cumprir um papel
inerente à estratégia de verossimilhança, pode ser responsável por sustentar todo o mistério de
um enredo, como no caso da obra Grande Sertão: Veredas e o vestuário masculino encobridor
do corpo feminino de Diadorim.
Compondo textos históricos, relatórios, publicações teóricas, a indumentária tende a
ser interpretada como verdade, como real, e serve como prova do acontecido, muitas vezes
conservada, no caso dos estudos arqueológicos, em museus ou laboratórios como uma
memória ancestral. Já em textos literários, os vocábulos que permeiam o universo da
indumentária buscam encenar a personagem como se ela fosse real ou dispõem objetos
afetivos à cultura humana, que podemos reconhecer e que nos permitem produzir sentidos
sobre detalhes importantes para se compreender a trama.
39
Vale ressaltar que essa interpretação como se fosse realidade permeia os estudos sobre
a leitura literária, concluindo que a trama literária sempre nos convida para um jogo, o jogo
do texto, e nele assumimos uma posição ativa como leitor. Logo, é no leitor que o sentido do
texto se realiza. Mesmo que respeitemos os limites recortados pelo autor no seu trabalho
estético, nossa imaginação acaba atuando de forma totalmente única fazendo com que cada
pessoa tenha uma percepção particular do texto; mesmo que se chegue à mesma conclusão
sobre o geral do enredo, as minúcias podem ser infinitas justamente porque infinitas são as
percepções humanas de mundo. Nesse sentido, Wolfgang Iser (1979) afirma que:
Os autores jogam com os leitores e o texto é o campo do jogo. O próprio texto é resultado de um ato intencional pelo qual um autor se refere e intervém em um mundo existente, mas, conquanto o ato seja intencional, visa a algo que ainda não é acessível à consciência. Assim o texto é composto por um mundo que ainda há de ser identificado e que é esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim, interpretá-lo. Essa dupla operação de imaginar e interpretar faz com que o leitor se empenhe na tarefa de visualizar as muitas formas possíveis do mundo identificável, de modo que, inevitavelmente, o mundo repetido no texto começa a sofrer modificações. Pois não importa que novas formas o leitor traz à vida: todas elas transgridem — e, daí, modificam — o mundo referencial contido no texto. Ora, como o texto é ficcional, automaticamente invoca a convenção de um contrato entre o autor e o leitor, indicador de que o mundo textual há de ser concebido, não como realidade, mas como se fosse realidade (ISER, 1979, p. 107, grifo do autor em itálico, grifo nosso em negrito).
Dessa forma, interpretar a indumentária das linhas literárias requer uma série de
contextos que se relacionam com a cultura do tempo e espaço do enredo, mas sempre
ampliando as possibilidades de cada vestuário à imaginação que faz cada peça única no como
se de cada leitor. Assim, mais exclusiva do que a alta costura é cada peça de indumento
literária, unicamente percebida por cada interlocutor no jogo do texto.
Uma meia puída, em um romance, pode significar, segundo os indícios da trama, a
condição financeira precária da personagem ou o apego a um objeto afetivo herdado, mas a
aparência dessa meia será sempre única em cada imaginação — quando não citada a cor, por
exemplo, cada leitor escolherá a que sua imaginação trouxer à tona. Já se a meia for descrita
como transparente, preta e fina, contornando toda a perna feminina, pode ilustrar a
sensualidade ou pode ser um incômodo para a personagem que a veste como uniforme todos
os dias no calor do Rio de Janeiro, mas se é composta de fio 20 ou 50 só o leitor poderá dizer.
Um par de meias, dobrado e guardado na gavetinha do quarto infantil e nunca usado,
possibilita a dimensão da angústia quanto à ausência da criança perdida ou a alegria na espera
por quem ainda não nasceu, mas se a meia é de listrinhas ou bolinhas muitas vezes fica a
cargo do leitor, que chega a imaginar até mesmo suas próprias meias de quando era criança.
40
De toda forma, a indumentária não se inscreve gratuitamente nas linhas literárias:
pontua nas entrelinhas significados de mundo que o leitor realiza como se fosse realidade, mas
valendo-se das lacunas que podem vir a ser bordadas com sentidos além do instigado pelo
texto em si.
Assim, a indumentária imaginada a partir da palavra que a descreve oferece à leitura
literária a potencialidade de unir os conhecimentos sociológicos e históricos à trama como se
fosse realidade, construindo a interpretação pela verossimilhança, a partir do que é íntimo a
todos os seres humanos: o vestuário que acompanha diariamente cada sujeito.
Nesse sentindo, questiona o filósofo Roland Barthes (2009), ao analisar a descrição
nas legendas de fotos de revistas de vestuário de moda:
(...) o que ocorre no momento em que um objeto, real ou imaginário, é convertido em linguagem? Ou, para deixar ao circuito tradutor a ausência de vetor de que falamos: no momento em que ocorre o encontro de um objeto com uma linguagem? Se o vestuário de Moda parecer um objeto irrisório perante uma interrogação tão ampla, pense-se que essa mesma relação se estabelece entre o mundo e a literatura: não será ela a instituição que parece converter realidade em linguagem, que situa seu ser nessa conversão, tanto quanto nosso vestuário escrito? Aliás, a Moda escrita não será uma literatura? (BARTHES, 2009, p. 33, grifo do autor em itálico, grifo nosso em negrito).
Barthes (2009) questiona as significações da indumentária como linguagem escrita,
em sua obra Sistema da Moda, referindo-se aos objetos de vestuário descritos em revistas de
moda, cuja leitura geralmente se faz de maneira a buscar uma interpretação literal do que se
lê. O autor percebe que, enquanto a fotografia do indumento possibilitava uma apreensão mais
literal do que seria tal item de vestuário — como uma calça, um cinto, um detalhe de flor no
tecido —, a legenda descritiva permitia uma interpretação além, que ampliava as conclusões
sobre o que seria a peça, indo até mesmo além do disposto na imagem. Assim, enquanto
conjunto, fotografia e descrição/legenda ornavam um sentido literal da indumentária, porém,
quando analisadas separadamente, a legenda descritiva possibilitava um significado muito
mais subjetivo de cada item, dando a perceber assim uma estratégia similar à utilizada por
autores literários enquanto no uso da descrição de indumentária em suas obras, nas quais o
vestuário não é mero detalhe, mas demarcador social e encenador psicológico, e criador de
um vínculo mais próximo do leitor com o corpo das personagens.
Como observam Geanneti Salomon e Adriana Baggio (2020), a indumentária, como
um importante fenômeno cultural, influenciou escritoras e escritores em suas criações
literárias, assim,
41
Toda sua potência tem sido usada na caracterização de personagens, possibilitando às leitoras e aos leitores perceberem nela aspectos culturais, sociais, psicológicos e políticos e as diversas representações humanas no âmbito das sociedades (BAGGIO; SALOMON, 2020, p. 8).
Portanto, ao se valer do indumento como vocábulo, a literatura amplia seu potencial semiótico
de significação humana. Nesse sentido, ao recortar seus estudos sobre a indumentária, a partir
do termo moda3, Silvia Barbosa e Flávia Teixeira (2020, p. 16) citam: “(...) ‘como extensão
do corpo, a moda significa, num dado momento, o próprio sujeito’ (Castilho; Martins, 2005,
p. 109)”, então,
A literatura, nesse contexto, posiciona-se como uma relevante trama de significação social, cujos elementos vão além da historicidade do próprio corpo e da moda, de modo a fazer erguer um novo corpo juntamente com os seus inúmeros processos de subjetivação (BARBOSA; TEIXEIRA, 2020, p. 16-17, grifo nosso).
Percebemos, segundo o que afirma Salomon (2020), que poucas foram as pesquisas
acadêmicas a analisar as possibilidades desse “novo corpo”, resultado do diálogo entre
indumentária e literatura. A autora constatou que até o ano de 2020 foram identificados 23
trabalhos em instituições brasileiras cuja localização geográfica se concentra, sobretudo, no
Sudeste do país, excetuando-se somente quatro casos que são do Sul.
Dessas 23 pesquisas, apenas 17 dedicaram-se exclusivamente à indumentária na
literatura brasileira, as demais analisaram o diálogo entre as áreas em obras de outras
nacionalidades. E, desse reduzido número de investigações com corpus nacional, 9 trazem
estudos sobre a indumentária na obra de Machado de Assis, ou seja, mais da metade é
dedicada a apenas um escritor.
Percorreremos, então, algumas dessas pesquisas acerca da encenação da indumentária
na literatura brasileira com o propósito de observar suas significações geradas a partir da
leitura de tramas de diversos autores, destacando-se, contudo, Machado de Assis, já que sobre
sua obra é que se concentra o maior número de pesquisas. E, posteriormente, ilustraremos a
3 O conceito de moda contém em parte o de indumentária, porém é mais extenso, podendo abarcar a moda na arquitetura ou na automobilística, por exemplo. Quando se refere à indumentária, ou seja, a indumentária de moda, diz além do comportamento humano em relação ao vestuário, apontando para algo mais relacionado ao consumo de indumentos e sua constante renovação, enquanto os estudos de indumentária são mais antropológicos e percorrem a história das vestimentas junto a dos seres humanos, desde os primórdios de nossa espécie. Assim, utilizamos nesta pesquisa fontes como Anawalt (2011) e Peter Stallybrass (2008) como principais para falar sobre a história, psicologia e sociologia da indumentária, nos valendo também de outras, como Crane (2006), Godart (2010) e Anjos (2020), dentre outros, para falar da indumentária sob o viés da moda, mas valendo-nos apenas do aspecto sociológico e psicológico do vestir estudado também na moda, sem aprofundar em suas nuances comercias e sazonais atuais, por exemplo. Escolhemos o termo indumentária para esta pesquisa pois ele nos atende melhor, já que o jagunço parece atravessar os tempos resistindo também em sua indumentária, fechado no couro.
42
constância de termos do universo do vestuário que permeiam a literatura brasileira, a partir de
alguns exemplos, e que poderiam ser alvo de pesquisas além dessa que fazemos, para que seja
possível perceber como a indumentária é quase sempre indispensável à escrita literária para se
alcançar aspectos psicológicos e sociológicos das personagens.
3.1 Análises da indumentária literária brasileira “com toda leitura e suma doutoração”
Sou só um sertanejo, nessas altas ideias navego mal. Sou muito pobre coitado. Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração (ROSA, 2015, p. 24).
Levando-se em consideração que a trama acompanha o ser humano desde os
primórdios da espécie, tanto tecida em sua indumentária quanto em sua cognição e linguagem,
é surpreendente a rara dedicação científica para analisar os significados da indumentária
urdida nas linhas literárias, até então.
Trabalhos feitos anteriormente, com registros encontrados a partir de 1950, servem-
nos de inspiração, embasamento e comparação para a realização da análise da indumentária
masculina presente no enredo de Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, obra
envolta a um instigante impedimento de um relacionamento sexual amoroso que é reforçado
devido ao vestuário da personagem Diadorim, no tempo e espaço cuja cultura não tolerava e
muito menos compreendia a diversidade de gênero e a multiplicidade dos desejos sexuais.
Buscamos, portanto, com este subcapítulo, expor nosso Estado da Arte4. Logo,
pretende-se uma ilustração nos valendo de análises científicas com a mesma temática —
investigar os significados da indumentária na literatura brasileira — que sejam indicativos dos
efeitos que essa estratégia de escrita pode causar na leitura literária e que corroboram para
que, posteriormente, nossa análise possa encontrar seus próprios resultados, aproximando ou
distanciando a narrativa de João Guimarães Rosa dos demais escritores brasileiros citados
aqui.
A pioneira na análise da indumentária na literatura brasileira foi Gilda de Mello e
Souza, em 1950, ao defender sua tese, resultado do Doutorado em Sociologia, da
Universidade de São Paulo. A partir dessa tese, a autora publicaria um artigo em seu livro A
ideia e o figurado, em 2005. Intitulado “Macedo, Alencar, Machado e as roupas”, o artigo nos
traz uma reflexão sobre os usos da indumentária como estratégia de escrita de três autores
4 “(...) expressão usada para definir estudos de portes diversos que pretendem expor trabalhos publicados em determinadas áreas do conhecimento e analisá-los, ou apenas apontá-los, promovendo uma revisão bibliográfica” (SALOMON, 2020, p. 163).
43
brasileiros, da segunda metade do século XIX, sendo eles Joaquim Manuel de Macedo, José
de Alencar e Machado de Assis.
Segundo a autora, os três escritores utilizam a indumentária com diferentes estratégias,
mas sempre com o intuito que perpassa alcançar a sociologia e a psicologia das personagens.
Vemos, então, que Macedo descreve minuciosamente cada detalhe da vestimenta feminina,
trazendo informações que vão desde a cor do laço que enfeita um vestido até o valor
demandado para se vestir bem de acordo com os costumes da época encenada na narrativa.
Dessa forma, o autor se preocupa em ser o mais verossímil possível, encenando através do
vestuário o tempo e o espaço social em que vivem suas personagens, assim “O feitio, o tecido,
os enfeites, as flores e fitas, os brincos e adereços são mencionados, não por pendor estético
do narrador, mas porque constituem sinais eficientes de classe ociosa” (SOUZA, 2005, p. 74).
Já sobre a obra de José de Alencar, Souza (2005) aponta que o romancista reduz o
detalhamento na descrição do indumento e concentra-se em outras formas de encenar pelo
vestuário, assim, em Lucíola (1862), por exemplo, “Alencar utiliza a oposição de vestimentas
para descrever simbolicamente a psicologia da protagonista” (SOUZA, 2005, p. 75) que ora
pode ser interpretada como alguém entregue à “redenção purificadora do amor”, através de
um vestido todo branco de renda, ora pode ser uma mulher entregue ao “júbilo satânico do
pecado”, composta em um erótico vestido escarlate e preto.
E, ao inaugurar a pesquisa sobre o até hoje mais trabalhado autor do diálogo entre
indumentária e literatura, Gilda de Mello e Souza (2005) analisa a obra de Machado de Assis
perpassando diversos textos, dentre os romances e contos de sua produção literária. Constata
que Machado diverge dos demais, pois se concentra mais na indumentária masculina para
falar do social e de sua cultura no tempo de seus enredos, ao passo que sobre o vestuário
feminino interessam-lhe mais as encenações em ambientes íntimos, fora da vista da
sociedade.
Portanto, a partir da indumentária masculina em tramas como as dos contos O espelho
(1882) e Capítulo dos chapéus (1883), Souza (2005) percebe que:
Cada criatura humana não conta com uma alma apenas, mas com duas: “Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro” e constitui a alma exterior. As duas almas, igualmente necessárias, completam o homem; mas é a exterior que estabelece a relação do indivíduo com o mundo, os valores, a opinião e, de certo modo, institui a identidade (SOUZA, 2055, p. 79).
Percepção, essa, conivente com a afirmação do defunto narrador Brás Cubas, no romance
Memórias Póstumas de Brás Cuba (1881), ao falar da impressão que teve sobre as vestes de
44
seu amigo Quincas Borba: “Calo-me; digo somente que se o principal característico do
homem não são as feições, mas o vestuário” (ASSIS, 2019, p. 325).
Além disso, Souza (2005) analisa a diferença quanto ao vestuário feminino descrito,
constatando que para Machado de Assis “a tarefa que cabe à vestimenta das mulheres é
acelerar o impulso erótico, exacerbá-lo através do negaceio constante entre o empecilho da
roupa e o desvendamento da nudez” (SOUZA, 2005, p. 83). Dessa forma, ao contrário de
Joaquim Manuel de Macedo, “Machado jamais se limita à descrição da roupa, preferindo
deter-se no que ela sublinha, destaca, deixa adivinhar; no que se vê de perto, no espaço
vertiginoso da intimidade” (SOUZA, 2005, p. 85), encenando, de forma semelhante a José de
Alencar, o erotismo a partir da indumentária feminina.
Por comparação, Gilda de Mello e Souza (2005) conclui que, ao se utilizar de
vocábulos inerentes à indumentária, a estratégia principal de Macedo era refletir a “opinião
dominante da burguesia média” (SOUZA, 2005, p. 88) detalhando o vestuário de acordo com
os usos dessa classe social e sua cultura, enquanto José de Alencar buscava, além de espelhar
a psicologia das personagens, trabalhar a essência erótica do vestuário feminino num jogo de
esconder e mostrar, sugerir por cores e transparências das roupas.
Já para Machado de Assis,
(...) era preciso distinguir a função diversa que a vestimenta desempenhava para o grupo masculino e o grupo feminino. No primeiro caso ela cumpria sobretudo um papel civil, definidor de status e instaurador de uma identidade fictícia, mas pacificadora; no segundo, era o auxiliar eficiente do jogo erótico, num momento social instável, ambíguo, de conquistas recentes e aspirações sufocadas (SOUZA, 2005, p. 88, grifo da autora).
Ainda sobre este diálogo entre a indumentária e a literatura machadiana, mais
precisamente a indumentária da obra Dom Casmurro, destacamos a dissertação Registros
realistas da moda como parte do jogo irônico em Dom Casmurro, de Machado de Assis, de
Geanneti Silva Tavares Salomon (2007)5. No mesmo ano de defesa da pesquisa, 2007, a
autora publicou um artigo, na revista científica Scripta, com título homônimo, do qual nos
valemos para uma breve explanação sobre o seu trabalho.
Na análise de Salomon (2007), a indumentária da obra Dom Casmurro, de Machado
de Assis, funciona como uma ferramenta alegórica que, além de participar da delineação do
tempo e espaço, ainda caricaturiza as personagens e as encena como em uma peça teatral,
5 Ressaltamos que Geanneti Salomon realizou o mestrado neste mesmo curso — Literaturas de Língua Portuguesa — e instituição — Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais — no qual agora realizamos a análise sobre a indumentária masculina da obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa.
45
entrelaçando à trama ambiguidade e duplicidade, constituintes da ironia, servindo de
importante estratégia de descrição a Machado de Assis, autor justamente aclamado por seus
enredos irônicos.
Nesse sentido, Salomon (2007, p. 108-109, grifo da autora) explica: “Uma análise dos
descritivos da indumentária das personagens da obra nos fez constatar que a ambiguidade e a
duplicidade de vários aspectos da moda parecem ter sido utilizadas para a manutenção dessa
atmosfera instável de que falamos em Dom Casmurro”, sendo tal “atmosfera instável” a
conclusão acerca da estrutura da trama ser “construída visando à manutenção da ambiguidade
e da instabilidade de múltiplos sentidos que não se deixam fixar” (SALOMON, 2007, p. 108).
Buscando analisar a importância da indumentária para a obra Dom Casmurro,
Salomon (2007) elabora sua pesquisa mostrando que
(...) a questão da indumentária se estrutura em duas vertentes que se desenvolvem juntas e se completam, produzindo o mesmo efeito: a exposição de uma intenção autoral na construção de uma narrativa deslizante. A primeira vertente surge de uma análise da imagem criada para as personagens José Dias, Capitu e Escobar (manipuladoras, calculistas, movidas por interesses), através do descritivo de sua indumentária, que se opõe à imagem de Bentinho (aparentemente inocente, ingênuo), sem suporte de indumentária. A segunda vertente se baseia na presença de peças de moda, características do período, que são inseridas em episódios da obra, contados pelo narrador como se ali estivessem descompromissadas com o todo da narrativa, como se apenas fizessem parte de suas “reminiscências” (SALOMON, 2007, p. 109, grifo nosso).
Além disso, sua leitura ainda esmiúça a escrita de Machado de Assis, da qual se pode
perceber que
O traço vestimentar garante a coerência visual da imagem cênica da obra ao não se apresentar com detalhes excessivos que pudesse subverter a narrativa, ao estar de acordo com o seu próprio tempo histórico, com o tipo físico das personagens, sua posição social e cultural. Mas, principalmente, a indumentária dessas personagens cumpre o papel de dar-lhe características instáveis, propiciando uma intenção aparentemente primordial: a de manter a ambiguidade, na medida em que são inseridas incongruências em seu funcionamento (SALOMON, 2007, p. 110, grifo nosso).
Dessa forma, a autora consegue alcançar tanto os significados psicológicos quanto os
sociais da narrativa machadiana que permeiam o comportamento das personagens em um
texto cuja indumentária lhe parece indispensável.
Por se fazer tão importante ferramenta de escrita para Machado de Assis, raros
trabalhos científicos fugiram à indumentária de sua obra. Temos, dentre poucos, a análise
46
feita por Franciane Pimentel Melo (2017) em sua dissertação6, intitulada O costurar da moda,
da literatura e do jornalismo nas crônicas de João do Rio. Em sua pesquisa, a autora buscou
“costurar os tecidos da moda com linhas extraídas das malhas da literatura e jornalismo”
(MELO, 2017, p. 58), a partir da leitura e análise de duas crônicas do escritor Paulo Barreto,
conhecido como João do Rio.
Um dado importante a sabermos para compreender a escrita de João do Rio é que o
escritor estava imerso em uma sociedade em transformação, cuja indumentária da alta classe
da cidade do Rio de Janeiro seguia a moda parisiense da Belle Époque, que se caracteriza por
vestuários alegres, ornados com flores e plumas, muito detalhados, bordados e brilhosos. A
elegância se unia à alegria, descontração, para inspirar a época em questão. Marnie Fogg
(2013, p. 196) explica que “O período conhecido como Belle Époque (1890-1914)
corresponde mais ou menos ao divertido e sensual movimento art nouveau”, tempo em que a
sociedade parisiense saía do rígido período vitoriano para “uma era de afrouxamento da
moralidade” (FOGG, 2013, p. 196), o que seria refletido na indumentária.
Por pesquisas históricas, através de fotografias, pinturas e indumentárias conservadas
em museus e acervos, Marnie Fogg (2013) percebe que a indumentária masculina trazia
novidades, sobretudo, nos tecidos coloridos que por vezes fugiam às cores preta, azul-escuro e
branco/cru, além da inovadora estampa risca de giz ou com listras mais grossas, o que
Franciane Pimentel Melo (2017, p. 61) aponta como sendo a própria vestimenta do autor João
do Rio, adepto a ternos que iam “dos tons básicos, como o branco, preto e verde, até chegar
aos tons de rosa e cereja”.
Já sobre o vestuário feminino, Fogg (2013), discorre detalhadamente, demonstrando
que, esse sim, abrilhantava qualquer espaço pelo qual as mulheres circulavam. Logo, essa
autora expõe:
Na art nouveau, os desenhos tinham como base os caules em vez das pétalas das flores. A moda imitava a arte, e a Belle Époque se caracterizou pelo alongamento da silhueta feminina. Os vestidos foram ajustados acompanhando as curvas sinuosas do corpo, desde as costelas até o quadril, o que exigia roupas íntimas diferentes. Surgiram mangas de formatos variados, desde a manga presunto, em c.1890, até o estilo lenço dos vestidos de chá; algumas eram mais fluidas e faziam par com luvas brancas longas. Os decotes eram quase sempre altos, indo até o queixo nos vestidos diurnos, o que alongava mais o corpo, apesar de as cinturas estarem no lugar ou levemente acima da costela, e o caimento era reto nos quadris, com as saias com nesgas estilo linha A alçando suavemente ao chão. Chapéus largos do tipo Viúva Alegre, com a copa exageradamente enfeitada com aves-do-paraíso, flores de seda (...) ou plumas e penas, acompanhando coques bufantes. Chapéus estilo lingerie, feitos de renda cor de merengue, eram reservados para os ricos em férias. Por volta
6 Defendida e aprovada no Mestrado em Humanidades, Culturas e Artes, da Universidade do Grande Rio
47
de 1910, a touca ou o turbante alto da rainha Maria começaram a ser usados como acessórios da silhueta tipo coluna, enfeitados com egretes de plumas e diamantes (FOGG, 2013, p. 197).
Sem a necessidade de nos atermos a cada detalhe descrito, percebemos pelo conjunto que se
tratava de um estilo de vestuário altamente ornamentado, com plumas, flores e até mesmo
diamantes que garantiam o brilho almejado pela sociedade parisiense.
Franciane Pimentel Melo (2017, p. 90) destaca que, na cidade do Rio de Janeiro, a
“Belle Époque Tropical” foi marcada por imensa modernização do espaço urbano pautada na
estética europeia, com largas avenidas, café e livrarias, ou ainda,
Na Belle Époque o uso e os costumes da Europa tinham esse ar moderno de viver e se divertir. Os cafés assim como as livrarias eram verdadeiros pontos de encontros entre doutores de toda a sorte e formação, principalmente, médicos e advogados. A Academia Brasileira de Letras estava recém-fundada e seus acadêmicos tinham o costume de se encontrarem na Livraria Garnier (MELO, 2017, p. 54).
Em meio a toda pompa e modernização, a autora ainda ressalta:
A Belle Époque carioca queria estar à altura da perfeição que havia ficado Paris. Mesmo que aqui as construções, demolições e transformações tenham um embelezamento, a questão social se agravou e boa parte da população que deveria também por usufruir dos espaços, em muitos aos (sic) casos, foi excluída e sendo “empurrada” para localidade e bairros cujo conceito da Belle Époque não fazia parte da realidade. Felizmente ou infelizmente, parte da imprensa era o reflexo e reforçava esses comportamentos (MELO, 2017, p. 55).
Focando na escrita de João do Rio, importante autor da imprensa carioca do início do
século XX, Melo (2017) percebeu que, por escrever crônicas sobre um tempo imerso no
fervor da Belle Époque Tropical, o autor se valeu de inúmeras descrições de vestuário que
construíam os próprios espaços sociais opostos, tendo ele mesmo circulado por comunidades
pobres e ricas. Por transitar entre espaços tão contrastantes, as crônicas refletiam as
impressões críticas do autor sobre a cidade em plena transformação, de estilo e de ritmo, já
que seu tempo marcava o início da República no Brasil. Notava assim que a influência
francesa acontecia tipicamente sobre as classes mais altas, enquanto a população pobre era
indiferente àquela moda estrangeira.
Ao observar a indumentária francesa mesclar-se à parte da cultura carioca, João do Rio
fazia da moda instrumento jornalístico e literário, ao mesmo tempo. Enquanto a descrição
servia de relato de um tempo, o contar em crônica abria espaço à imaginação dos leitores e à
encenação de personagens que se distanciavam da realidade pela ficcionalização.
48
Melo (2017) destaca que a obra de João do Rio é constantemente atravessada por
descrições de indumentária urbana carioca, traço explicado pelo gosto particular do autor em
acompanhar a moda de seu tempo, além de observá-la como instrumento gerador de
contrastes sociais esteticamente notáveis na população.
A pesquisadora seleciona duas crônicas para sua análise de forma a reforçar a leitura
do contraste entre as comunidades cariocas. Assim, Melo (2017) destaca que em “Barracão
das Rinhas”, há uma cena periférica, cuja população mais pobre diverte-se num esporte
estranho ao narrador-testemunha, que transita observando a cena à margem da alta sociedade
da cidade do Rio de Janeiro. Diante de uma rinha de galos, o narrador destaca que a ocasião
parecia exigir certo luxo, estando todos com suas melhores roupas, indumentos usados
geralmente para ir à igreja aos domingos, para assistir a galos se dilacerando até a morte.
Melo (2017) faz uma reflexão sobre a roupa da qual conclui que o ato de se vestir de
determinada maneira representa um figurino social para ser aceito em delimitado espaço em
seu tempo, por isso, as personagens do conto “estavam nesse barracão, o sol queimando as
suas peles, as suas roupas, camisas de manga e provavelmente alguém estava de paletó, todos
vestidos de forma ‘endomingada’ para juntos se divertirem com a crença de que ali estavam a
assistir um esporte” (MELO, 2017, p. 102). O estranhamento do narrador se dá pelo fato de
que as camisas de manga e o paletó sob o quente sol do Rio de Janeiro pareciam representar
um luxo forçado, acima dos limites de conforto que o clima exigia. Logo, abafadas em suas
melhores roupas, as personagens seguem nessa atmosfera violenta da rinha encenando uma
pompa que não chega aos padrões da alta sociedade em plena estética da Belle Époque, mas
que não deixa de ser um figurino de desfile diante do grupo de sua comunidade.
Já na segunda crônica selecionada por Franciane Pimentel Melo (2017), “Gente de
Music-Hall”, o narrador, novamente como testemunha, se encontra num cassino, onde a alta
classe social desfila os mais requintados modelos parisienses da Belle Époque em plena Rio
de Janeiro do início do século XX. Em sua leitura, Melo (2017) percebe que a apresentação
das personagens sugere puro luxo, com homens em seus smokings, e mulheres envoltas em
plumas, com vestidos de corte francês e anéis em todos os dedos, além de uma dançarina com
meia de seda cor de carne e vestido de lantejoulas prateadas.
Diante do brilho luxuoso descrito pela indumentária do ambiente também de jogos,
como no conto anterior, porém este sendo noturno e muito mais sofisticado, o narrador
possibilita a pesquisadora refletir, conforme Castilho (2004 apud MELO, 2017), que:
49
Ao eleger esta ou aquela forma de se vestir, o ser humano entra num sistema de moda. Se ele segue padrões “modais” da época, ele afirma o “outro”, a alteridade, ao mesmo tempo em que se põe como partícipe desse “outro”, desse grupo, que passa a ser o mesmo de sua própria identidade. Se ele, por outro lado, não segue padrões “modais” da época, ele nega o “outro”, a alteridade, ao mesmo tempo em que se afirma como o “diferente”, mas é justamente aí que se apreende a sua identidade (CASTILHO, 2004 apud MELO, 2017, p. 104).
Dessa forma, Melo (2017) conclui que, mesmo em ambientes tão contrastantes, as
crônicas de João do Rio demonstram a necessidade de coletividade humana, de estar de
acordo com o que manda o figurino social de cada fatia da população carioca, cada uma em
seu espaço, ligadas pela mesma cidade e época. Assim, a indumentária serve a João do Rio
como um marcador social, de classes, que colabora também com a marcação espácio-
temporal de suas crônicas.
Dando seguimento às pesquisas que compõem nosso Estado da Arte, chegamos à
última, na qual a antropóloga Solange Mezabarba (2020), que também fugiu às linhas
machadianas, encontrou em Clarice Lispector um chapéu para sua análise. Em seu artigo “O
vestir e os conflitos femininos na obra de Clarice Lispector: o caso do chapéu da rapariga”, a
pesquisadora expõe a análise feita sobre o conto “Devaneios e embriaguez de uma rapariga”,
publicado no livro Laços de família, em 1950, no qual a narrativa de Lispector conta sobre
uma portuguesa de classe média, casada, mãe, e enfadada de sua vida doméstica no Brasil,
que se defronta com o inesperado chapéu na cabeça de outra mulher, em um encontro de
negócios, ao qual foi como acompanhante do marido.
O chapéu incomoda a protagonista por vê-lo como contraste à sua própria cabeça
exposta, nua, sem revestimento. Mezabarba (2020) explica que a importância do chapéu se dá
pelos seus significados sociais, assim, a autora se vale de diversos pesquisadores para
destacar:
Pitt-Rivers (PERISTIANY, s.d.) observa que a cabeça é a parte do corpo na qual cabem as demonstrações de honra e respeito, reveladas, muitas vezes, em adornos e coberturas, exatamente como o chapéu da antagonista no conto de Lispector. Já a condição de adorno do chapéu em questão, para Simmel (2008), pode ser um meio de transformar a força e a dignidade sociais em perceptível proeminência pessoal. O chapéu, elemento de proteção de uma parte “nobre” do corpo, a cabeça, na virada do século XX, encontra na moda um conceito que o mantém como peça-chave para a apresentação de si. Delius (2000) recorda que a peça pode reunir diversos significados, desde a religiosidade até a posição social, a nacionalidade e mesmo o pertencimento político. Crane elenca o chapéu como um dos acessórios que, no século XIX, “constituíam símbolos poderosos de identidade masculina, [e] foram igualmente incorporados pelas mulheres durante esse período” (CRANE, 2006, p. 206) (MEZABARBA, 2020, p. 35-36, grifo nosso).
50
Nesse sentido, lembramos o registro feito por Patricia R. Anawalt (2011), na obra
História Mundial da Roupa, que revela que o chapéu é a indumentária mais antiga do mundo,
encontrado em fósseis, tanto feito em couro quanto tecido por fios de matéria-prima vegetal,
como o linho, sendo interpretado por antropólogos e arqueólogos como indicador de status
social em cada comunidade em que fora encontrado, muitas vezes utilizado por líderes.
Tendo, historicamente, tamanha importância social, o chapéu alheio, no conto de
Clarice, segundo Mezabarba (2020), causa inicialmente uma espécie de pudor na
protagonista, pela nudez de sua cabeça. Essa percepção pelo contraste faz com que a
personagem se sinta desonrada, inferior diante da outra. Porém, valendo-se de valores sociais
que permeavam a vida feminina na década de 1950, encontra conforto ao constatar que apesar
do poderoso chapéu, a mulher possui um corpo extremamente magro, o que a impediria de ser
mãe, de ser fértil, segundo a protagonista.
Nesse ponto, Solange Mezabarba (2020) afirma que a protagonista passa a se sentir,
então, superior, pois é mãe, cumprira assim seu papel social dignamente; sente-se, portanto,
honrada novamente mesmo que lhe falte o chapéu. Como se o adereço na cabeça alheia agora
lhe parecesse um disfarce pela desonra de não poder cumprir o papel destinado à mulher de
classe média da década de 1950. A pesquisadora conclui, então, que o chapéu no conto de
Lispector possibilita a reflexão sobre honra e respeito, sobre estilo de vida e padrão social de
gênero:
(...) o chapéu, eivado de significados, interpõe-se entre protagonista e antagonista como elemento comparativo de um estilo de vida. A que se vê afetada por sua condição socioeconômica liberta-se ao entender que leva uma vida honrada de acordo com os padrões da época. O chapéu, ao fim, não é apenas uma parte, mas se caracteriza como sinédoque de um estilo de vida que ele declara, o artefato integra a figura daquela mulher que, por sinal, muito magra, poderia falhar ao ser chamada para assumir seu papel dentro desse esquema social. Cumprindo com aquele elemento da aparência que lhe garante a formação de uma família, a protagonista se resigna. Ou seja, desprovida do chapéu, a personagem criada por Clarice se conforma com o destino que lhe é imposto e, mais, valoriza a posição de mãe, esposa e dona de casa que lhe é designada como valor social inquebrantável e, portanto, algo que deve ser celebrado. Com uma faxina! (MEZABARBA, 2020, p. 39, grifo nosso).
Desse modo, o chapéu, simbólico adorno social, passa a contrastar com a própria
mulher que o utiliza e não mais com a sua observadora, focando não mais no significado
histórico da peça, mas encenando um figurino que mascara a realidade da mulher que o usa.
Tudo isso, afirma Mezabarba (2020), sendo conclusão da protagonista que se encontra
51
embriagada, conforme o título do conto, e após grande demonstração de inveja pelo notável
item de indumentária alheia.
Diante de todas essas pesquisas, conseguimos perceber que a indumentária é
importante ferramenta de encenação social nas obras literárias. Seja disposta na descrição de
diversos itens ou limitada a apenas uma peça, pontua no enredo características acerca da
personagem que com ela se reveste. Encobre para mostrar alguma informação.
Sabemos que ao perceber tamanha importância do indumento literário acabamos mais
atentos às suas ocorrências. Por isso, exemplificaremos, a seguir, brevemente, a ocorrência
notada por nós em diversas obras brasileiras, organizadas cronologicamente, demonstrando
que, a despeito dos poucos trabalhos científicos dedicados ao diálogo entre as áreas —
indumentária e literatura brasileira —, a indumentária está constantemente disposta nos
cabides da ficção, costurando às entrelinhas os mais diversos significados acerca das
personagens, do tempo e do espaço.
3.2 Tramando o gosto de especular personagens: breve cronologia da indumentária em
algumas obras da literatura brasileira
O senhor fia? Pudesse tirar de si esse medo de-errar, a gente estava salva. O senhor tece? Entenda meu figurado (ROSA, 2015, p. 159).
A indumentária percebida nas linhas literárias nos permite encontrar possibilidades de
significação infinitas e está presente em diversos autores brasileiros e internacionais,
mostrando que a relação do ser humano com o vestuário é realmente universal e bastante
íntima. Tão íntima que se fundem personagem e vestuário, convidando sempre o leitor a
calçar os seus sapatos. Além disso, a indumentária pode ir além da singularidade do sujeito
encenando também o espaço e o tempo da trama.
Neste sentido, é possível notar que fazendo um breve passeio pelos bosques e avenidas
da ficção brasileira, dentre prosa e poesia, aqui ou ali há sempre uma peça de roupa
pendurada, um corpo adornado ou mesmo uma referência direta à confecção de indumentária.
Como forma de exemplificar, alinhavamos uma sequência cronológica que parte do século
XIX, com o romancista Machado de Assis, até o arremate contemporâneo, pontuado pelos
versos de Ana Martins Marques.
Em 1899, Machado de Assis publicou Dom Casmurro. A narrativa traz inúmeras
descrições de vestuário que, como vimos, serviram de corpus para a pesquisadora Geanneti
52
Salomon (2007, p. 12), e essa autora explica que sua escolha se deu porque a
indumentária/moda parecia ter uma função alegórica no romance, percebendo-se, para além
de meros objetos de cenas, signos inerentes às significações da composição das próprias
personagens, além da indumentária configurar cenograficamente uma espécie de figurino
devido à trama machadiana se desenrolar de forma teatral.
Como vimos, Salomon (2007) disserta que há um jogo de ironia e ambiguidade no
romance costurado ao vestuário que não só veste as personagens como as caracteriza
psicologicamente e socialmente, além de as caricaturar. Essa pesquisadora se concentrou,
principalmente, na indumentária que envolve as personagens Capitu, Escobar e José Dias,
para embasar suas observações sobre a ambiguidade alinhavada à personalidade de cada uma
dessas figuras.
Assim como Geanneti Salomon (2007), ao ler Dom Casmurro, notamos que a trama é
realmente carregada de indumentos, permitindo-nos, já nas primeiras linhas, encontrar
vocábulos referentes ao vestuário, como quando o narrador Bentinho conta: “Uma noite
dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do
bairro, que eu conheço de vista e chapéu” (ASSIS, 2020, p. 13). Sabemos que conhecer
alguém “de vista” é popularmente entendido como uma pessoa que não se conhece a fundo,
mas somente por encontros esporádicos, superficiais, ou alguém que já se tenha visto poucas
vezes antes, mas conhecer alguém “de chapéu” sugere-se a necessidade de certo
conhecimento de sociologia da indumentária para ser possível construir cognitivamente a
significação de que o termo conhecer junto a de chapéu interage com a informação de que por
muitos séculos, até a primeira metade do XX, o chapéu foi item indispensável no vestuário
humano, sobretudo no masculino, como ilustrador de status social, profissional e/ou de poder
(CRANE, 2006).
Assim, quando o narrador diz que conhece o rapaz “de vista e chapéu”, passando-se a
narrativa no século XIX, pode-se interpretar, segundo as informações sobre o chapéu na
temática da indumentária masculina como demarcador social, que o rapaz seja de uma classe
social próxima à de Bentinho, já que lhe era familiar (e não estranho) pelos locais que
frequentava e pelo chapéu que usava para lhe ser permitido estar em determinados locais.
Machado utiliza-se da descrição de indumentária para que seu caro leitor alcance,
assim, as características sociais das personagens junto às psicológicas, conforme vimos este
mesmo apontamento no trabalho de Salomón (2007).
Adentrando o século XX, o modernista Mário de Andrade publicou Macunaíma, em
1928. Para além da linguagem inovadora, o autor traz toda a ação da narrativa ligada ao
53
movimento de seu protagonista (homônimo ao título) impulsionado pelo talismã
“Muiraquitã”, colar com pingente com o qual Ci presenteia Macunaíma, antes de subir ao céu,
para proteção e sorte do protagonista, porém o talismã é roubado pelo gigante Venceslau
Pietro Pietra. A tentativa de recuperação do afetivo indumento de proteção, Muiraquitã, é que
faz “o herói sem nenhum caráter” (ANDRADE, 2017), nascido “No fundo do mato virgem”
(ANDRADE, 2017, p. 13), deslocar-se para a cidade grande, levando-o a enfrentar o mundo
mesmo com sua constante preguiça.
Já em 1930, o poeta Carlos Drummond de Andrade publica seu primeiro livro, Alguma
Poesia, e dentre seus versos inaugurais — e mais famosos —, estão os que dizem:
O bonde passa cheio de pernas: pernas brancas pretas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada (DRUMMOND DE ANDRADE, 2015, p. 10).
Nesse trecho, do “Poema de Sete Faces”, é possível perceber a principal mudança na
indumentária feminina a partir da década de 1920: “As barras das saias subiram para acima do
joelho pela primeira vez entre 1925 e 1928” (FOGG, 2013, p. 239). Assim, mesmo não
descrevendo o vestuário, o poeta o faz por metáfora, pela qual é possível chegar ao sentido
que: se havia pernas à mostra; se a vestimenta feminina era a de saias mais curtas permitindo
a observação de tais pernas; se o coração se aflige enquanto os olhos apenas observam sem
questionar, logo, pensa-se no tom erótico inerente à cena em que o eu lírico admira a nova
moda vestida pelas mulheres no bonde em que estava, sem seus olhos questionarem, talvez
como alguém que se deleita com a transição do tamanho das saias que quebram parte do
pudor corporal feminino, a partir da década de 1920.
Seguindo na linha versada, entre 1940 e 1941, João Cabral de Melo Neto publica
Pedra do Sono, seu segundo livro de poesias, das quais destacamos alguns versos de Os
manequins: “Tenho no meu quarto manequins corcundas / onde me reproduzo / e me
contemplo em silêncio” (NETO, 2020, p. 36). Aqui, é possível perceber, a conversa com o
mundo da confecção de indumentária a partir da utilização do vocábulo manequins, que
geralmente é um objeto-ferramenta tanto para a exposição de roupas quanto para a
modelagem das peças, pelo método francês moulage.
54
Todavia, curioso é o adjetivo que poeta apresenta sobre os manequins: corcundas. Um
manequim torto, como um gauche do Drummond7, sendo esse inclusive um autor de grande
admiração por João Cabral de Melo Neto. Um manequim que não serve mais à sua função,
porque inviabiliza a modelagem e fica esteticamente inútil à exposição de peças. No entanto,
é justamente nesse feio e inútil que o eu lírico se reproduz e se contempla. A fusão do corpo
humano com o objeto-ferramenta expositor de uma identidade composta pelo vestuário, a
comparação entre um e outro, juntando-se aos versos iniciais que falam sobre os sonhos
cheios de pó e do homem enforcado que se sente metaforizam para a interpretação de que a
melancolia é contemplável bem como a própria morte.
Além disso, a poesia foi inspirada na obra de Giorgio De Chirico (1988-1978), pintor
italiano precursor do surrealismo que também era figurinista e cenógrafo, cuja temática em
suas obras traziam muitos manequins representando o corpo humano, como o sujeito-objeto
em cena.
Adiante, o ano 1946 marca a estreia literária de João Guimarães Rosa, autor da obra de
nossa análise nesta pesquisa — Grande Sertão: Veredas —, trazendo a público o conjunto de
contos que compõe a publicação Sagarana. Dentre os nove contos, está o intitulado
“Conversa de bois”, que narra a travessia feita por um carro-de-bois, com o carro, os bois, o
guia e o carreiro. Dessa trama, vale-nos destacar a indumentária que envolve o corpo do
menino Tiãozinho. Não são muitas as peças de vestuário presentes na descrição de
personagens, o que nos ajuda a compreender a função específica dos indumentos para a
caracterização do menino que guia o carro-de-bois. Na verdade, somente as roupas de
Tiãozinho são descritas, reforçando a estratégia de escrita adotada por Rosa, que
compreenderemos analisando-o brevemente.
Vemos, então, que o menino acaba de se tornar órfão por parte de pai, e a travessia se
dá no deslocamento do corpo desse pai até o arraial onde irão enterrá-lo, servindo o carro-de-
bois como transporte funerário. O ambiente é rural, como os muitos descritos em toda a obra
de Guimarães Rosa, lembrando os cenários facilmente encontrados no interior de Minas
Gerais, por exemplo. Na estrada de terra, Tiãozinho segue guiando o carro-de-bois com o
carreiro Agenor Soronho, com quem tem conflituosa relação.
Quando o carro-de-bois aponta na estrada de terra, observado por uma irara (que
narraria a cena a Manuel Timborna, que posteriormente contaria a estória ao narrador, que
7 Os primeiros versos publicados, de Carlos Drummond de Andrade, em seu Poema de Sete Faces, anunciam: “Quando nasci, um anjo torto / desses que vivem na sombra / disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida” (DRUMMOND DE ANDRADE, 2015, p. 10, grifo do autor).
55
agora nos narra a mesma, em sua versão), é descrito que o menino-guia, Tiãozinho, é “um
pedaço de gente, com a comprida vara no ombro, com o chapéu de palha furado, as calças
arregaçadas, e a camisa grossa de riscado, aberta no peito e excedendo atrás em fraldas
esvoaçantes” (ROSA, 2017, p. 267), e, além disso, trazia alpercatinhas nos pés. Percebemos,
com o decorrer da trama, que a indumentária de Tiãozinho aponta para a idade do menino, sua
estrutura física e o estado psicológico do mesmo, além de servir como um anúncio em certo
momento, do qual falaremos adiante.
Primeiramente, observamos que o adjetivo “riscado” para descrever a estampa da
grossa camisa que estaria “aberta no peito” aponta metaforicamente para a ferida de sua
tristeza pela morte do pai: um riscado aberto no peito. Além disso, sendo “um pedaço de
gente”, sua camisa “excedendo atrás em fraldas esvoaçantes” reduz ainda mais o menino, o
transformando em um bebê, além de permitir compreender o seu sentimento de insegurança,
tão pequeno sem poder contar com a proteção do pai (considerando-se a figura paterna como
símbolo de proteção na cultura ocidental e religiosa cristã, conforme é corriqueiro nas
comunidades do interior do Brasil), aspecto que o chapéu de palha furado também salienta,
prejudicando a proteção contra o sol forte, reforçando o desamparo do menino.
A camisa lhe parece grande demais, sobrando, esvoaçando, o que nos leva a entender
que o menino não vestia roupas próprias, mas sobras de alguém ou emprestadas, o que
apontaria para uma situação financeira cuja família poderia ser pobre, necessitando reutilizar e
compartilhar as mesmas roupas, e/ou que as mesmas poderiam ser a herança de seu pai. Nesse
mesmo viés, Tiãozinho usava calças arregaçadas, dando a entender que lhe pareciam também
muito grandes, fazendo com que na cena imaginada o menino fosse realmente muito pequeno.
E, para reforçar ainda mais sua pequenez, calçava sapatos descritos no diminutivo: “as
alpercatinhas” (ROSA, 2017, p. 267).
Inerente a essas informações, notamos que a estratégia literária inicial é a de nos fazer
ler Tiãozinho como uma personagem infantil, pequena — calçando ainda alpercatinhas —,
magro — já que tudo lhe era esvoaçante, arregaçado — e frágil em sua tristeza pelo luto
vivido.
Assim, Tiãozinho pensa que os demandos e surras que leva de Agenor Soronho se
devem ao tamanho de ambos, sendo ele tão pequeno e o carreiro tão grande. Então, o menino
devaneia que “Há-de chegar o dia!... Quando ele crescer, quando ficar homem, vai ensinar ao
seu Agenor Soronho... Ah, isso vai!...” (ROSA, 2017, p. 277). E duas páginas após, uma cena
parece nos trazer um anúncio do desenlace, que se dá com a morte de Agenor Soronho,
livrando Tiãozinho dos desmandos do antagonista e fazendo o menino crescer, ficando, então,
56
homem, conforme ele pensa sobre quando crescer. Destacamos, portanto, tal cena aqui porque
é justamente pela indumentária que se anuncia que Tiãozinho estava crescendo na narrativa:
Estancam todos, bois e carros, no meio do chapadão. Foi o guia Tiãozinho, que teve de parar para segurar as calças, que lhe tinham caído de repente até os pés. Depôs a vara no chão, depressa, porque estava até vermelho, só em camisão e perninhas magrelas, que vergonha. E agora está-lhe custando para amarrar a tira de pano na cintura e ficar composto outra vez. Com o céu todo, vista longe e ar claro — da estrada suspensa no planalto — grandes horas do dia e horizonte: campo e terras, várzea, vale, árvores, lajeados, verde e cores, rotas sinuosas e manchas extensas de mato — o sem-fim da paisagem dentro do globo de um olho gigante, azul-espreitante que esmiúça: posto no dorso da mão da serrania, um brinquedo feito, pequeno, pequeno: engenhoca minúscula de carro, recortado; e um palito de vara segura no corpo de um boneco homem-polegar, em pé, soldado-de-chumbo com lança, plantado, de um lado; e os boizinhos-de-carro de presépio, de caixa de festa. E o menino Tiãozinho, que cresce, na frente, por mágica. Pronto. As calças não vão cair mais! (ROSA, 2017, p. 279, grifo nosso).
Notamos, então, que enquanto a cena abre com Tiãozinho sentindo vergonha pela
humilhação de suas largas calças caírem durante a travessia, a mesma se fecha com Tiãozinho
composto outra vez, com as calças amarradas que não cairiam mais. Logo, o trecho anuncia
que Tiãozinho não sofreria mais a humilhação por ser pequeno: “As calças não vão cair
mais!” (ROSA, 2017, p. 279). Ao mesmo tempo, o tom da narrativa ganha um aspecto lúdico,
onde o carro-de-bois e Agenor Soronho se transformam em miniaturas de brinquedo diante da
criança que cresce, por mágica, como em uma brincadeira infantil. E as peças do brinquedo da
criança à sua disposição sugerem que ele pode tomar as decisões em sua vida.
Dessa forma, o fato das calças não mais caírem anuncia o que saberíamos ao fim da
narrativa, cujo desfecho se dá com a morte de Agenor Soronho, agente das maiores
humilhações de Tiãozinho, após uma ordem do próprio menino que, inconscientemente — ou
ainda, a consciência de seus desejos desvela-se nas falas dos bois, que ele escuta em um
estado de semissono, mas não percebe, mesmo que no início do conto o narrador afirme que
os bichos falam com os humanos —, autoriza os bois a darem o arranque que derruba o
carreiro que acaba com o pescoço esmagado pela roda do carro.
Por fim, limitando-nos a não alongar profundamente na análise desse conto, mas
apenas exemplificarmos brevemente, notamos que com poucas peças a figurarem em uma só
personagem, Guimarães Rosa constrói com a indumentária os aspectos psicológicos e sociais
de Tiãozinho, além de se valer do enlace das calças com um pano na cintura a garantir que
não cairiam mais como uma estratégia de anunciação sobre o desenlace do conto, onde o
menino se vê livre da humilhação quando quem cai é seu antagonista.
57
Já em 1958, Jorge Amado publicou Gabriela, cravo e canela. Dentre os inúmeros
indumentos apresentados na narrativa, como o vestido de chita da protagonista, Gabriela, ou a
sua recusa aos sapatos, chama-nos a atenção também a indumentária de outra personagem: as
meias pretas de Sinhazinha Guedes Mendonça. A importância dessa peça de vestuário é
tamanha que há inclusive o capítulo “Das meias pretas”, dedicado a elas.
Sabemos que, na abertura do romance, o narrador anuncia que o marido de Sinhazinha
Guedes Mendonça, Jesuíno Mendonça, a matou a tiros junto ao seu amante, o cirurgião-
dentista Dr. Osmundo Pimentel, fazendo com que a discussão sobre a absolvição por legítima
defesa da honra fosse desenrolada como principal temática da obra. Assim, no capítulo “Das
meias pretas”, há um verdadeiro alvoroço entre os homens a dialogar sobre o crime no bar
Vesúvio, pois tomaram conhecimento de que ela foi morta nua, somente com meias pretas:
No bar, Ari Santos — o Ariosto das crônicas no Diário de Ilhéus, empregado em casa exportadora e presidente do Grêmio Rui Barbosa — curvou-se sobre a mesa, ciciou o detalhe: — Ela estava nuinha... — Toda? — Inteira? — a voz gulosa do Capitão. — Todinha... A única coisa que levava era umas meias pretas. — Pretas? — Nhô-Galo escandalizava-se. — Meias pretas, oh! — o Capitão estalava a língua. — Devassa... — condenou o dr. Maurício Caires. — Devia estar uma beleza. — O árabe Nacib, de pé, viu de repente dona Sinhazinha nua, calçada de meias pretas. Suspirou. O detalhe constaria nos autos, depois. Requinte do dentista, sem dúvida, moço da capital, nascido e formado na Bahia, de onde viera para Ilhéus, após a colação de grau, há poucos meses, atraído pela fama da terra rica e próspera. (...). Consultório bem montado na sala da frente mas o fazendeiro encontrou a esposa foi no quarto, vestida apenas — como contava Ari e constou nos autos — com “depravadas meias pretas” (AMADO, 2008, p. 110-111, grifo do autor).
Para compreender o espanto de uns e a surpresa de todos ao saberem das meias pretas
é preciso considerar que, conforme retrata Marnie Fogg (2013), após as saias tornarem-se
mais curtas na década de 1920, influenciadas pela cultura francesa, como vimos ao falar do
poema de Carlos Drummond de Andrade, as mulheres aderiram a meias claras de seda para
esconderem o que consideravam imperfeições de suas pernas, como manchas, varizes ou
cicatrizes. A ideia era fazer com que as pernas parecessem nuas, mas torneadas pelas meias.
As meias, então, eram “feitas com dois pedaços de seda bege ou cor da pele que depois eram
costurados um ao outro, elas faziam a perna parecer nua, com exceção da costura que subia
pela parte de trás” (FOGG, 2013, p. 225). Assim, descobrimos que a cor preta das meias de
Sinhazinha Guedes Mendonça é uma informação que liga à personagem significados de
58
devassidão porque tais meias pretas jamais poderiam ser usadas por mulheres como ela, de
alta classe social, católica, mãe de família tradicional.
As meias pretas, em 1925, ano da trama de Gabriela, cravo e canela, compunham
figurinos de teatro ou se limitavam ao uso por prostitutas, por serem consideradas muito
eróticas (FOGG, 2013). Reforçando a influência francesa sobre as meias femininas, as cores
claras dominavam porque essa população tinha a pele clara. No Brasil, mesmo que a
Sinhazinha Guedes Mendonça fosse descrita como morena, usar meias pretas, “— Finíssimas,
meu caro, estrangeiras...” (AMADO, 2008, p. 111), incorporava os significados eróticos
inerentes à peça de indumentária importada.
Assim, o diálogo dos homens no bar Vesúvio sobre as tais meias pretas permite
compreender que era realmente inesperado o vestuário de Sinhazinha Guedes Mendonça, o
que justificaria o impulso de seu marido ao assassiná-la com tamanho ódio, junto ao amante:
dois tiros em cada um.
A partir das meias pretas, a trama se desenrola no questionamento sobre o crime e sua
absolvição, onde a parte masculina traída no relacionamento tinha o direito de matar a parte
feminina envolvida, bem como o amante, sem ter que responder judicialmente por isso. A
trama de Jorge Amado, através também da indumentária, traz importante questionamento,
ainda na década de 1950 (quase 1960), sobre os direitos das mulheres, possessividade em
relacionamentos afetivo-sexuais, novas formas de se pensar o amor e a crítica à legítima
defesa da honra — argumento jurídico que absolvia os maridos que assassinavam suas
companheiras (atualmente, crime que se enquadra na denominação “feminicídio”) e que só foi
proibido em tribunais brasileiros em fevereiro de 2021, ano em que escrevemos esta pesquisa.
Dando continuidade aos exemplos de encenação envolta pela indumentária, em 1971,
a literatura marginal ganha forças e mantém as vestes. Dentre seus poemas mais lembrados
está o rápido e rasteiro, do poeta Chacal, cuja peça emblemática dos versos é “o sapato”:
vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir pra parar. aí eu paro tiro o sapato e danço o resto da vida (CHACAL, 1971 in MORICONI, 2001, p. 271, grifo nosso).
Seria necessária uma ampla análise histórica da política brasileira para compreender a
importância desse elemento naquele tempo, todavia, por não se tratar do material principal de
análise nesta pesquisa, apresentamos nossa leitura de forma resumida. Portanto, em meio à
59
Ditadura Militar, com suas exigências de rigidez comportamental, o sapato seria a repressão, a
indumentária em formato compacto, de material rígido, que contrasta com o movimento do
corpo do eu lírico ao dançar. Então, em um gesto de libertação, ele tira o sapato para
continuar seus passos sem que lhe aperte e restrinja os pés.
Ao mesmo tempo, estando “o sapato” no singular, nota-se que a peça de vestuário é a
própria metáfora do soldado que ordena parar de dançar, uma metonímia — a parte comum ao
vestuário do agente militar —, porém o eu lírico se recusa/desobedece ao “tirar” (que em um
sentido popular poderia ser entendido como o ato de deferir palavras de baixo calão contra
alguém) o sapato/soldado, e como castigo acaba por “dançar” (como gíria), ou seja, se dar
mal, sofrer violência, a vida inteira. O sapato figura um símbolo de dureza e seriedade do
tempo, a rigidez militar, que, como veremos, aparece inerente às solas dobradas de grossas
dos sapatos do delegado Jazevedão, em Grande Sertão: Veredas.
E seguindo a linha da poesia marginal, em 1982, Antônio Carlos de Brito — o Cacaso
— publica Posteridade, poema dedicado ao multiartista Mário Carneiro, cujas fotografias
inspiraram o poeta em seus versos. A peça da vez é um colete preto como a própria
representação do corpo humano na imagem: “O colete preto de meu avô montava num burro”
(BRITO, 2012, p. 15). E o colete, versos à frente, “virou sorvete”, como que congelado no
tempo pelo retrato para o qual o avô havia posado.
A roupa aparece como a simbologia da permanência na memória, mesmo que o avô
venha a ficar demente. Aquele sujeito na foto com seu colete preto permanece, afinal, a
“roupa tende pois a estar poderosamente associada com a memória ou, para dizer de forma
mais forte, a roupa é um tipo de memória. Quando a pessoa está ausente ou morre, a roupa
absorve sua presença ausente” (STALLYBRASS, 2008, p. 14).
Em 1990, deixando a poesia marginal para deleitarmo-nos com a obra de Hilda Hilst,
temos, no livro Alcoólicas, nove poemas, sendo que seis deles apresentam a peça de
indumentária “casaco rosso”. Após percorrer os caminhos da embriaguez, nos quais “a Vida é
líquida” (HILST, 2017, p. 470), o eu lírico despende sua atenção ao casaco no oitavo (e
penúltimo) poema:
O casaco rosso me espia. A lã Desfazida por maus-tratos É gasta e rugosa nas axilas. A frente revela nódoas vivas Irregulares, distintas Porque quando arranco os coturnos Na alvorada, ou quando os coloco rápida Ao crepúsculo, caio sempre de bruços.
60
A Vida é que me põe em pé. E a sede. E a saliva. A língua procura aquele gosto Aquele seco dourado, e acaricia os lábios Babando imprudente no casaco. É bom e manso o meu casaco rosso Às vezes grita: ah, se te lembrasses de mim Quando prolixa. Lava-me, hilda (HILST, 2017, p. 474).
Notamos que a palavra italiana rosso nos informa a cor do casaco — vermelho — e
que o eu lírico parece ser autobiográfico já que leva o mesmo nome da autora — hilda —, o
que nos faz imaginar o casaco na mesma cena que uma mulher branca que poderia vir a ficar
rosada ou vermelha quando embriagada, como geralmente ficam as pessoas de pele muito
clara, assim, percebemos que o casaco rosso é o próprio corpo da poeta, o corpo rosso
embriagado na vida líquida. Logo, Hilda sente-se como em um casaco rosso quando bêbada,
aquecida em uma cor quente. E a autora confirma sua metáfora no poema anterior, ao
divulgar, nos versos: “Eu, e o casaco rosso / Que não tenho, mas que a cada noite recrio /
Sobre a espádua” (HILST, 2017, p. 473), que recria a indumentária a cada noite de
embriaguez.
Já no início do século XXI, Luiz Ruffato publica, em 2001, o romance Eles eram
muitos cavalos, no qual a narrativa fragmentada apresenta 68 capítulos/contos a compor o
romance cujo enredo encena diversas personagens unidas pela localidade geográfica, a cidade
de São Paulo, no mesmo tempo, o dia 9 de maio de 2000.
É possível perceber personagens pertencentes ao que seria a classe média brasileira,
por vezes até mais pobres, significadas em suas calças a roçar nos matos secos do
acostamento da rodovia onde caminham à noite; uma mulher em seus óculos pretos com
esparadrapo, xale com camisola de alcinha; sapatos e meias brancas de um médico; os tênis
brancos com a calça escolar azul-marinho da estudante etc. Em todos os capítulos/contos em
que o vestuário aparece, não é sempre descrito com cor, modelo, marca, textura e demais
características; aparecem em fragmentos como todos os elementos dessa narrativa em
pedaços.
Assim, a experiência de leitura convida a imaginar todas as peças de acordo com o
conhecimento de mundo do leitor, mas delimita em parte a interpretação ao trazer descrições
simples e objetivas, como costumam ser as roupas de pessoas que não têm acesso a marcas de
luxo, com suas ostentadas etiquetas; bem como salienta o tédio na cena cotidiana da classe
social em questão, onde um sapato é só um sapato, que serve para calçar e ir trabalhar, um
61
uniforme está no corpo a caminho da escola; não há nenhuma camisola de seda, é somente
uma camisola de alcinha cujo tecido fica por conta do leitor.
Ao mesmo tempo, a indumentária encena gostos pessoais das personagens ou mesmo
o clima quando faz combinações de camisola de alcinha com xale e pantufas ou quando o
tênis da estudante está impecavelmente branco, apontando talvez para uma moda entre os
adolescentes ou para a limpeza da personagem oposta à paisagem suja urbana pela qual se
move.
Já em uma escrita mais atual, a poeta Ana Martins Marques encenou em seus versos:
“em casa trocamos de pele para sair à rua” (2017, p. 27). Não há a citação direta sobre
qualquer que seja a peça que se usa, mas o verso dialoga justamente com a necessidade
humana do vestuário para se expressar enquanto sujeitos sociais. O corpo revestido de uma
pele social; a proximidade da pele e do vestuário; a fusão do que é pele e o que é roupa como
significante do sujeito. Assim, como afirma a neurocientista Nathalia Anjos (2020, p. 31), “as
roupas — e não os olhos, como os poetas gostam de dizer — são o primeiro elemento que
capta nossa atenção na sociedade”.
O poema de Ana Martins Marques foi escrito durante um exercício criativo sobre a
temática do morar, do residir, quando a autora se hospedou poucos meses na casa de um
amigo que havia viajado. Assim, estando em uma casa alheia, mas como se fosse sua, a poeta
pensa sobre o dentro e o fora das paredes de um dos apartamentos do Edifício JK, no Centro
de Belo Horizonte.
Enquanto no verso supracitado Ana Martins Marques diz de nossa pele social, do
nosso figurino cotidiano, em outro poema se vale do vestuário para construir a seguinte cena:
Ela comprou material de limpeza e umas cervejas e um whisky ela nunca bebe whisky e enquanto toma as cervejas pensando que não basta se mudar para mudar ela pensa na mulher que ela seria se morasse de fato ali se aprendesse mesmo a beber sem desmoronar dentro do próprio vestido se adentrasse os olhos naquela paisagem clara e áspera e incorporasse ao seu corpo os imensos barulhos da noite (MARQUES, 2017, p. 10).
62
Logo, percebemos que o vestido representa para o eu lírico o espaço social onde sua estrutura
pode vir a desmoronar. A autora constrói a alegoria onde o corpo e seu vestuário encenam a
própria moradia, além de demarcar o gênero fazendo com que a mulher não beba o forte
destilado, whisky, para que não desmorone, mantendo sua pose na peça de indumentária
tipicamente feminina. E, ainda, é possível sentir o erotismo construído quando, na cena,
misturam-se os termos “dentro do próprio vestido”, “adentrasse os olhos”, “incorporasse ao
seu corpo”, “imensos barulhos da noite”, trazendo no vestido a abertura, o buraco por onde se
adentra, como uma janela a permitir a vista da paisagem.
Por fim, de Machado de Assis à Ana Martins Marques, buscamos demonstrar
resumidamente que os entrelaçamentos entre literatura e indumentária não são somente atuais,
mas de longa data, visto que ambas as áreas tratam de construções humanas advindas de
experimentações pessoais e sociais. A estética está presente em ambas. E como algo tão
próximo ao corpo, tão fundido a ele, a indumentária aparece como elemento natural na
composição de muitas escritoras e escritores justamente por simbolizar tantas significações
quanto ao sujeito no mundo.
Tendo em vista tantos exemplos e como a indumentária participa da realização do
sentido do enredo literário, atravessaremos, no próximo capítulo, a narrativa escrita por João
Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas, analisando de que forma as peças de vestuário
masculino contribuíram para a encenação no contar de Riobaldo.
63
4 GRANDE VIÉS: VEREDAS — A INDUMENTÁRIA MASCULINA EM GRANDE
SERTÃO: VEREDAS
Diadorim – nu de tudo. E ela disse: — “A Deus dada. Pobrezinha...” E disse. Eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor — e mercê peço: — mas para o senhor divulgar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também só soube... Que Diadorim era o corpo de uma mulher, moça perfeita... Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. A côice d’arma, de coronha... Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível; e levantei mão para me benzer — mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as lágrimas maiores. Uivei. Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era mulher como o sol não acende a água do rio Urucúia, como eu solucei meu desespero (ROSA, 2015, 484-485).
Pensar a indumentária na obra Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa,
leva-nos a questionar se o maior mistério do romance não seria também sustentado pelo
vestuário de Diadorim. Vestido de jagunço, confunde e perturba Riobaldo: “De que jeito eu
podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas,
espalhado rústico em suas ações?!” (ROSA, 2015, p. 403, grifo nosso). Cada peça da
indumentária masculina de Diadorim, descrita espaçadamente por Riobaldo, em fragmentos,
veste e esconde a possibilidade da realização do amor ao mesmo tempo em que desperta o
questionamento sobre a descoberta da própria bissexualidade — Riobaldo ama um homem,
Diadorim, o jagunço Reinaldo, além do amor pelas mulheres Nhorinhá e Otacília. Ama,
assim, o masculino inscrito pelas roupas em Diadorim. Dessa forma, a indumentária não se
faz mero detalhe descritivo no romance rosiano: ela é também neblina a encobrir a narrativa
por suas centenas de páginas.
É possível perceber a indumentária como um véu tecido para o encobrimento do corpo
feminino de Diadorim. Véu que costura metaforicamente à trama de Rosa questionamentos
sobre homossexualidade e bissexualidade (ou ainda, sobre sexualidade em suas muitas
manifestações: hetero, homo, bi etc.), assuntos perturbadores e proibidos até quase o final do
século XX, sendo a obra publicada em 1956 e apresentando uma história romanesca que se
refere aos últimos momentos do século XIX e se estende até a primeira metade, com ênfase
nas primeiras décadas, do século XX. A narrativa nos entrelaça à angústia e à coragem do
protagonista nas suas percepções amorosas, do desejo. Desejamos, junto a Riobaldo, “um
Diadorim assim meio singular, por fantasma, apartado completo do viver comum,
64
desmisturado de todos” (ROSA, 2015, p. 242), um sujeito único, não como os demais — um
Diadorim só para Riobaldo —, cuja indicação do homem em suas machas roupas não fosse
impedimento para o desejo e a realização da satisfação do amor.
Outro aspecto importante sobre o vestuário em Grande Sertão: Veredas pode ser
observado acerca das próprias vestimentas do protagonista-narrador, Riobaldo, que se faz
jagunço somente enquanto vestido como tal, com suas cintas-cartucheiras, como veremos
adiante.
Além disso, a indumentária demarca a sociologia da trama, pontuando cada
personagem em determinadas posições sociais, políticas e até mesmo geográficas. Os
uniformes presentes na narrativa trazem o tom do poder, da despersonalização do sujeito
enquanto peça no jogo da hierarquia, ser coletivo, ao mesmo tempo em que diversas
singularidades são apontadas em peças que fazem sobressair um ou outro jagunço, soldado ou
político.
Fato interessante é notar que Riobaldo descreve com esmero a indumentária das
pessoas com as quais conviveu em sua travessia pelo sertão. Assim, recebem mais alusões as
peças que seus companheiros de travessia vestem do que personagens que só entram em sua
vida após deixar a jagunçagem, como seu compadre Quelemén de Góis. Vemos, portanto, que
o efêmero fazendeiro Seo Habão, por exemplo, tem suas vestes descritas quando aparece no
caminho da travessia do protagonista, na breve estadia de Riobaldo em sua fazenda, enquanto
o amigo-cumpadre Quelemém de Góis, conhecido somente pós-travessia jagunça, não ganha
nem um chapéu, símbolo de status masculino por séculos, de acordo com a sociologia da
indumentária (CRANE, 2006; ANAWALT, 2011). Só é contado ao interlocutor que
Quelemém plantava algodão, e, por associação, pode-se lembrar que o algodão foi a principal
matéria-prima para a confecção de roupas até a primeira metade do século XX (quando os
materiais sintéticos ganham força): “No tempo de maio, quando o algodão lãla8. Tudo o
branquinho. Algodão é o que ele mais planta, de todas as modernas qualidades: o rasga-letras,
bibol, e mussulim” (ROSA, 2015, p. 491).
Quelemén cultiva na terra do sertão uma das duas fibras vegetais mais antigas usadas
em fiação para tecelagem: o algodão e o linho. Há registros, como o de Heródoto (445 a.C.),
que descrevem essa ligação do algodão à indumentária humana: “Ali encontramos grandes
árvores em estado selvagem cuja fruta é uma lã melhor e mais bonita que a de carneiro. Os
8 Segundo Nilce Sant’Anna Martins (2020, p. 294), este é um neologismo com função poética, de João Guimarães Rosa, para o momento em que o algodão passa a “dar lã, abrir-se em flocos”, que é justamente quando possibilita a fiação para posteriormente servir à tecelagem.
65
indianos utilizam essa lã de árvore para se vestir” (HERÓDOTO, 445 a.C. apud PEZZOLO,
2017, p. 25). Assim, é como se Quelemén cultivasse o fio das gerações humanas, a origem do
tecer da indumentária que socializa o sujeito há mais de 3000 a.C., conforme confirmam os
registros antropológicos sobre o algodão como matéria-prima para a confecção de roupas
(ANAWALT, 2011, p. 18).
Curioso notar que a safra do algodão fica em ponto de colheita, quando “lãla”, ou seja,
se faz lã, podendo ser tecido, no mês de maio. Mês esse das mães, e de grandes
acontecimentos da vida de Riobaldo. Além disso, é o último trecho da narrativa em que se
toca em assunto que alude à indumentária, como se convidasse o leitor a tecer outros fios de
uma nova colheita da trama que se finda na palavra “Travessia” (ROSA, 2015, p. 492).
Para o desenrolar desta análise, optamos recortar por peças a indumentária rosiana de
Grande Sertão: Veredas. Assim, serão vistos os sapatos, chapéus, gibões, peças demarcadoras
de gênero e função social, não nos prendendo, a partir daqui, individualmente, a nenhuma
personagem, mas recortando o que, na trama, o vestuário teria a dizer.
4.1 Indumentária masculina: “macho em suas roupas”
De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações?! (ROSA, 2015, p. 403).
A indumentária, assim como ocorre em toda a história humana, aparece para ilustrar
socialmente os sujeitos. Imersa no texto literário, a descrição de peças parece querer transpor
a realidade ao alcance das mãos do leitor. Demarca o tempo, o espaço e até mesmo os
sentimentos de quem interpreta o outro pelo que o encobre.
Ao falar de descrição de moda (exclusivamente acerca de vestuário), Barthes (2009, p.
33-34, grifo do autor) afirma: “Moda e literatura dispõem de uma técnica comum cuja
finalidade é parecer transformar um objeto em linguagem: é a descrição”. Então, inserida no
texto literário rosiano, as peças de vestuário assumiriam o gênero de uma descrição: a
descrição de indumentária, envolvendo o objeto real por um véu imaginário, transformando
em linguagem as marcas temporais, espaciais e psicológicas inerentes a cada peça descrita no
discurso de Riobaldo.
Poderíamos pensar, então, que a indumentária masculina, em Grande Sertão: Veredas,
seria como os pequenos contos que atravessam a narrativa, trazendo um fundo falso, um vão,
uma gaveta descritiva para indicar particularidades sobre cada personagem envolto por peças
66
têxteis. Dessa forma, cada personagem é uma coisa-sujeito dentro da coisa-roupa. Nesse
sentido, Walnice Galvão (1972), ao falar sobre os contos dentro do contar de Riobaldo e
eleger a categoria “coisa dentro da outra” como matriz formal do romance, afirma:
(...) A imagem da coisa dentro da outra, visualmente tão impressiva e tão rica do significado global do romance — bem como dos fragmentos de significado que o compõem —, reitera-se em suas páginas em diversas variantes. Tôdas essas variantes giram em torno do fulcro central que lhes deu origem; o que varia é a natureza do material que põem em jogo, o espaço abrangido, o grau de abstração, etc. A coisa dentro da outra tanto pode tomar a forma de um bicho repulsivo como de um mau sentimento; ou então, a coisa pode estar contida por algo tão grande quanto a própria Terra ou tão pequeno como o ôlho de um homem; o ouvido e o som podem ser traços relevantes ou podem desaparecer inteiramente. Ainda, a coisa que está dentro da outra pode se dar à percepção apenas por um sinal externo, ou, ao contrário, é a menção dela que faz pressupor os efeitos que causa (GALVÃO, 1972, p. 121, grifo da autora).
Conforme afirma Galvão (1972), a menção da coisa pode “pressupor os efeitos que
causa”, como no caso do gibão — que veremos adiante —, que, ao ser citado, sendo uma peça
de indumentária tão característica de um espaço e de um tempo, traz à narrativa elementos
importantes para a compreensão tanto dos sujeitos que o vestiram quanto de informações que
foram além da descrição de vestuário em si. E, além do gibão, o que as outras peças de
indumentária mostram ou escondem?
As roupas masculinas, na narrativa de Riobaldo, parecem ter um alto valor. Assim,
necessitam ser guardadas e protegidas. Quando o bando de jagunços, comandados por
Medeiro Vaz, se dispersa para distrair os soldados que os perseguiam, o protagonista e
Sesfrêdo seguem juntos na busca por se esconder em um local seguro até que consigam
novamente se juntar aos companheiros de travessia. Nesse momento, Riobaldo tem o cuidado
de narrar: “Nossas armas, com parte de roupas, campeamos um seguro lugar, deixamos
escondidas” (ROSA, 2015, p. 68), demonstrando que mesmo em meio à guerra, à
perseguição, roupas e armas eram guardadas em lugar seguro, num modo de equivalência de
valor dos objetos.
As armas, sabemos, eram necessárias para a proteção e ataque no combate. Já sobre as
roupas, é possível que alguns fatores influenciassem a preocupação de guardá-las em local
seguro. Além do vestuário servir de proteção ao sujeito e o sinalizar socialmente, comprar
roupas exigia considerável desembolso, até o final do século XIX. Segundo Diane Crane
(2006),
Até a Revolução Industrial e o surgimento de vestuário confeccionado por máquinas, as roupas geralmente se incluíam entre os mais valiosos pertences de uma
67
pessoa. Roupas novas eram inacessíveis aos pobres, que vestiam roupas usadas, normalmente passadas por muitas mãos antes de chegarem a eles. Geralmente, um homem pobre possuía um único conjunto de roupas. (...) Os que eram ricos o suficiente para possuir guarda-roupas consideráveis julgavam as roupas uma valiosa forma de propriedade para ser legada, após a morte, a parentes e criados. Os tecidos eram tão caros e preciosos que constituíam uma espécie de moeda de troca e frequentemente substituíam o ouro como forma de pagamento por serviços. Quando os recursos escasseavam, as roupas eram penhoradas juntamente com joias e outros valores (CRANE, 2006, p. 24-25).
Dessa forma, percebemos que guardar as roupas em meio à guerra no sertão era
importante para além da função que a peça cumpria em relação ao sujeito, mas por seu valor
financeiro. Nesse sentido, Riobaldo relembra também a sua herança após a morte de sua mãe,
Bigrí:
De herdado, fiquei com aquelas miserinhas — miséria quase inocente — que não podia fazer questão: lá larguei a outros o pote, a bacia, as esteiras, panela, chocolateira, uma caçarola bicuda e um alguidar; somente peguei minha rede, uma imagem de santo de pau, um caneco de asa pintado de flores, uma fivela grande com ornados, um cobertor de baeta e minha muda de roupa. Puseram para mim tudo em trouxa, como coube na metade dum saco (ROSA, 2015, p. 100-101, grifo nosso).
Vemos, portanto, que mesmo tendo lhe restado apenas umas “miserinhas”, o que faz
questão de levar é o que lhe parece importante, observando-se que dentre seis itens, três são
têxteis — a rede, o cobertor e as roupas — e dois são itens de indumentária — a fivela grande
com ornados e a muda de roupa. Tal fivela é curiosa na cena, porque é descrita com ornados.
Soa, assim, como um item feminino, algo que pudesse pertencer à mãe. Além disso, algo que
é ornado denota certa vaidade, uma peça que enfeita, que orna a indumentária do sujeito que a
veste.
Ainda ao relembrar sua infância, Riobaldo narra um dos episódios que para nós,
leitores, é dos mais marcantes: o encontro com o Menino no encontro de dois rios — o De-
Janeiro e o São Francisco. Na cena de sua memória, a demarcação de status pelas roupas é
explícita:
Ele, o menino, era dessemelhante, já disse, não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável um suave de ser, mas asseado e forte — assim se fosse um cheiro bom sem cheiro nenhum sensível — o senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não fuxicavam (ROSA, 2015, p. 95, grifo nosso).
Enquanto isso, Riobaldo percebia-se: “(...) eu reparei, me acanhava, comparando como eram
pobres as minhas roupas, junto das dele (ROSA, 2015, p. 98, grifo nosso).
68
As roupas dos dois meninos descritas pelo narrador constituem elementos
fundamentais para compreender a posição social de cada um deles no momento de seu
primeiro encontro. O Menino era Diadorim, filho de fazendeiro e chefe jagunço importante,
Joca Ramiro. E Riobaldo era um pobre menino, como sua mãe, desfrutando, somente após a
morte dessa, “do bom e do melhor” às custas de seu padrinho/pai Selorico Mendes, com quem
vai morar e que vai torná-lo herdeiro de duas “possosas” fazendas.
Quando se muda para a casa do pai/padrinho, de onde vai estudar no Curralinho,
residindo na casa de Nhô Marôto, amigo de Selorico, permanece amparado pela riqueza
paterna:
Lá eu não carecia de trabalhar, de forma nenhuma, porque padrinho Selorico Mendes acertava com Nhô Marôto de pagar todo fim de ano o assentamento da tença e impêndio, até da botina e roupa que eu precisasse. Eu comia muito, a despesa não era pequena, e sempre gostei do bom e do melhor (ROSA, 2015, p. 102, grifo nosso).
Notamos, também, que o advérbio “até”, no período grifado, salienta as despesas de
Riobaldo que corriam por conta de Selorico Mendes, parecendo mesmo ser uma espécie de
luxo pagar botina e roupa que o afilhado/filho precisasse, e permitindo ao protagonista uma
vida bem diversa da que tinha, anteriormente, com a mãe.
Poderíamos interpretar que, ainda que mencione tão poucas peças de indumentária na
narrativa de Grande Sertão: Veredas, o autor dá-lhes notável valor. Talvez João Guimarães
Rosa buscasse ser fiel ao reduzido guarda-roupas das famílias e indivíduos brasileiros do final
do século XIX e início do XX, já que, no Brasil, segundo Ruth Sepaul e Netília Seixas (2017),
as máquinas de costura domésticas chegariam somente em 1858, sob altos preços (por serem
produtos importados até 1950), com regras de parcelamento para a sua compra favorecendo,
majoritariamente, famílias abastadas e ateliês. Além disso, mesmo que tal produto tenha
chegado ao Brasil em 1858, a venda de máquinas de costura só foi regularizada em 1888,
tardando e dificultando a aquisição das mesmas. Para além, naquele mesmo ano houve a
abolição da escravatura, o que gerou problemas à escravocrata indústria têxtil artesanal,
reduzindo a escala de confecção de roupas devido à escassa mão de obra.
Há também o fato de que a população sertaneja brasileira vivia ainda mais afastada da
possibilidade de ter uma máquina de costura, o que dificultava o acesso ao vestuário. Nesse
sentido, vale observar, por exemplo, o estudo de Frederico Pernambucano de Mello (A
estética..., 2000) sobre a estética da indumentária dos cangaceiros nordestinos, sobre a qual o
historiador afirma que eles, como os do grupo de Virgulino Ferreira, o Lampião, costuravam
69
suas próprias roupas nos acampamentos pelo sertão. Ao assaltar grandes fazendas, de famílias
muito abastadas, acabavam tomando para si objetos de grande valor, dentre eles, as joias, bem
como a própria máquina de costura Singer com a qual foi fotografado Lampião em seu labor
de alfaiate-bordador.
Assim, notamos que as roupas, no final do século XIX e início do XX, no Brasil, para
além da personalidade de cada sujeito e um código social de origem e bons modos,
denotavam riqueza, poder de posse e autoridade, o que se reflete na narrativa de Riobaldo,
como vemos na descrição da variedade de homens no acampamento do Hermógenes, durante
a perseguição a Zé Bebelo e seu bando:
Assaz toda espécie de roupa, divulguei: até sujeito com cinta larga de lã vermelha; outro com chapéu de lebre e colete preto de fino pano, cidadão; outros com coroça e bedém, mesmo sem chuva nenhuma; só que de branco vestido não se tinha: que com terno claro não se guerreia. Mas jamais ninguém ficasse nu-de-Deus ou indecente descomposto, no meio dos outros, isso não e não (ROSA, 2015, p. 142, grifo nosso).
Riobaldo descreve, assim, nesse curto trecho, a diversidade de classes sociais dos
sujeitos e permite “ler” o código de vestimenta que assinala o poder e o respeito entre os
companheiros tão diversos. Destacamos, do excerto, o “terno claro”, com o qual não se
guerreia no sertão, o que confirma o código de vestimenta imposto para os jagunços. Além
disso, visto que é branca a vestimenta, leva-nos a pensar na importância de permanecer limpo
o sujeito que o veste, sem manchas, sem a marca da vermelha terra pela qual atravessam e do
sangue que se espalha nos conflitos. A necessidade de estar vestido de acordo com a função
realizada explica a inadequação de tal terno na guerra, sendo restrito o mesmo aos que não
vão ao conflito, que permanecem imaculados. Assim, o terno claro nos leva a pensar em
grandes chefes, fazendeiros, políticos importantes, donos das ordens, mas que nunca as
executam.
Para além disso, tem-se “toda espécie de roupa”, ou seja, toda espécie de sujeitos,
como os que veremos, adiante, através dos detalhes da indumentária analisados
separadamente por cada peça, como forma de organizar e dar atenção a algumas significações.
4.1.1 Gibão: o jagunço antigo
A palavra “gibão” ocorre somente cinco vezes em todo o Grande Sertão: Veredas, o
que é curioso para um romance com tantos jagunços, mas isto não reduz a importância desta
70
indumentária. Pelo contrário, seu uso na narrativa pontua marcos temporais, aspectos sociais
e, até mesmo, devaneios sentimentais do próprio Riobaldo.
É válido, primeiramente, saber que gibão é uma peça de vestuário tradicionalmente
utilizada por vaqueiros do norte e nordeste do Brasil. É uma “espécie de casaco curto de couro
us. pelos vaqueiros” (MARTINS, 2020, p. 249), geralmente com cordões de amarração
entrelaçados na parte frontal do peito; uma armadura para a sobrevivência na paisagem
espinhenta e ensolarada dos sertões, conforme já descrevera Euclides da Cunha, em Os
sertões, ao falar sobre “O homem”:
O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo exausto da refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta; apertado no colete também de couro; calçando as perneiras, de couro curtido ainda, muito justas, cosidas às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola; e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guarda-pés de pele de veado — é como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. (...) Vestidos doutro modo não romperiam, incólumes, as caatingas e os pedregais cortantes (CUNHA, 2016, p. 119, grifo em itálico do autor, grifo em negrito nosso).
De forma diversa ao que faz Euclides da Cunha, o que encontramos em Rosa são
apenas fragmentos da indumentária. O gibão, em Grade Sertão: Veredas, aparece sozinho,
isolado do traje quase sempre. A primeira vez que se inscreve no texto, vem demarcando um
tempo que se foi, uma moda ultrapassada narrada por Riobaldo no início de seu contar:
Agora — digo por mim — o senhor vem, veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que, de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada. Os bandos bons de valentões repartiram seu fim; muito que foi jagunço, por aí pena, pede esmola. Mesmo que os vaqueiros duvidam de vir no comércio vestidos de roupa inteira de couro, acham que traje de gibão é feio e capiau (ROSA, 2015, p. 33, grifo nosso).
Observamos que, de toda a “roupa inteira de couro”, a única peça que ganha
nomenclatura específica é o gibão. Assim, é possível notar a importância e singularidade do
mesmo. Além disso, notamos que o trecho traz a referência à moda da indumentária que, com
o passar do tempo, sofreu modificações, já que, enquanto no período de jagunço de Riobaldo,
o gibão e a roupa inteira de couro eram, para além da armadura, o costume, o usual, o bonito.
Dentre as possíveis motivações para o uso do gibão, na obra rosiana, vemos o intuito
de proteção, já que a travessia se dá pelo sertão e sua diversidade climática, onde os jagunços
enfrentam tanto o árido e quente Liso do Sussuarão quanto o tempo das tempestades. Dessa
71
forma, estar vestido com algo que protegesse o corpo era necessário para suportar ora o sol
forte ora o frio e a chuva.
Além disso, partindo do pressuposto de que casacos de couro, como o gibão, passaram
a ser confeccionados com o intuito de proteção contra tiros em combates, conforme, por
exemplo, o registro de Anawalt (2011, p. 505) ao falar sobre o “casaco de sete camadas de
couro de cavalo” dos guerreiros tehuelches, da Patagônia, do início do século XIX,
lembramo-nos que, no sertão rosiano, o couro segue a mesma função de proteção, como no
combate na Fazenda dos Tucanos em que se estendem os couros, tapando as janelas para que
as balas dos inimigos ricocheteiem e caiam no chão, sem atingir o bando de Riobaldo,
comandado naquele momento por Zé Bebelo:
Na janela, ali, tinham pendurado igualmente um daqueles couros de boi: bala dava, zaque-zaque, empurrando o couro, daí perdia a força e baldava no chão. A cada bala, o couro se fastava, brando, no ter o choque, balangava e voltava no lugar, só com mossa feita, sem se rasgar. Assim, ele amortecia as todas, para isso era que o couro servia (ROSA, 2015, p. 273).
Servindo o couro de obstáculo no caminho das balas, vestidos de gibão de igual
material, os jagunços usavam a mesma estratégia de proteção, encobrindo a própria pele e o
lugar dos principais órgãos vitais com outras camadas de pele, o couro bovino, e, assim,
buscavam poupar o corpo do ataque das balas alheias. O gibão, assim, em primeiro momento,
pela função do vestuário em si na história da indumentária, é proteção.
Mas, vestidos de couro, o gibão transforma também os jagunços em gado, homem em
pele de bovino, homem-boi do sertão. Nesse sentido, Walnice Galvão (1972, p. 28), ao falar
do couro, destaca que por Riobaldo “os jagunços são vistos como rebanho”. E procurando em
toda a narrativa, percebemos que Riobaldo não se coloca em um gibão. O narrador, nesse
sentido, parece “animalizar” os companheiros, até mesmo Diadorim, mas não nos fornece sua
própria imagem nesta peça de indumentária tão ilustrativa do sujeito jagunço.
Além de homem-boi, — com a informação do casaco de sete camadas de couro de
cavalo em mente, conforme Anawalt (2011) — a trama parece se costurar à mitologia, aonde
cada jagunço poderia ser também, por estar vestido de couro da cabeça aos pés e montado em
cavalo, uma espécie de centauro, cuja “animalização” é reforçada em trechos como o que
Riobaldo descreve sobre avistar pela primeira vez o bando de Joca Ramiro, recém-chegado e
acampado na fazenda São Gregório, de seu pai/padrinho Selorico Mendes:
72
Aí mês de maio, falei, com a estrela-d’alva. O orvalho pripingando, baciadas. E os grilos no chirilim. De repente, de certa distância, enchia espaço aquela massa forte, antes de poder ver eu já pressentia. Um estado de cavalos. Os cavaleiros. Nenhum não tinha desapeado. E deviam de ser perto duns cem. Respirei: a gente sorvia o bafejo — o cheiro de crinas e rabos sacudidos, o pelo deles, de suor velho, semeado das poeiras do sertão. Adonde o movimento esbarrado que se sussurra duma tropa assim — feito de uma porção de barulhinhos pequenos, que nem o dum grande rio, do a-flôr. A bem dizer, aquela gente estava toda calada. Mas uma sela range de seu, tine um arreaz, estribo, e estribeira, ou o coscós, quando o animal lambe o freio e mastiga. Couro raspa em couro, os cavalos dão de orêlha ou batem com o pé. Daqui, dali, um sopro, um meio-arquêjo. E um cavaleiro ou outro tocava manso sua montada, avançando naquele bolo, mudando de lugar, bridava. Eu não sentia os homens, sabia só dos cavalos. Mas os cavalos mantidos, montados. É diferente. Grandeúdo. E, aos poucos, divulgava os vultos muitos, feito árvores crescidas lado a lado. E os chapéus rebuçados, as pontas dos rifles subindo das costas. Porque eles não falavam — e restavam esperando assim — a gente tinha medo. Ali deviam de estar alguns dos homens mais terríveis sertanejos, em cima dos cavalos teúdos, parados contrapassantes. Soubesse sonhasse eu? (ROSA, 2015, p. 105-106, grifo nosso).
A descrição mistura homens e cavalos, entrelaçando características que se confundem
ou que fundem ambos. Assim, ao mesmo tempo em que restam calados os homens, também
rangem os couros que se raspam. E quais são os couros que se raspam? De cavalo com cavalo,
de homem com cavalo, de homem com homem? O protagonista, em meio há uns cem
homens, não os sente, sabe só dos cavalos. Os homens não falam, mas a imponência de seu
tamanho homem-cavalo-jagunço desperta medo. A figura do centauro sertanejo, então,
emerge das entrelinhas do discurso de Riobaldo também pela descrição, na qual o vestuário,
mesmo sem ser citado peça por peça, está presente nos couros que ilustram o homem e o
cavalo como um só.
Outro aspecto interessante sobre essa “animalização” é que os chefes também são
diferenciados por Riobaldo do resto do bando, comparando-os a touros solitários, segundo
Galvão (1972), mas não se encontrando, na descrição, indicativo de que vestissem roupa
inteira de couro. Mesmo quando na recepção do bando de Joca Ramiro na fazenda de Selorico
Mendes, Riobaldo presencia todos “trajados de capotes e capas” (ROSA, 2015, p. 104), mas
não cita a matéria-prima de tais vestimentas.
Somente um dos chefes ganha explicitamente o gibão, detalhe que soa como um
demarcador de peça antiga, ao vestir com ele Sô Candelário. É como se o gibão sinalizasse a
antiguidade de um jagunço, considerando-se a época em que Riobaldo pertencia ao bando.
Assim, o protagonista descreve que, ao ser solicitada a opinião de tal chefe no julgamento de
Zé Bebelo, sob o comando de Joca Ramiro, ouve-se: “Sobre o que, sobreveio Sô Candelário,
arre avante, aos priscos, a figura muita, o gibão desombrado” (ROSA, 2015, p. 222). Nesse
momento da narrativa, a solução que Sô Candelário propõe acerca do prisioneiro Zé Bebelo é
73
um duelo de faca, ação bastante rústica, antiga, já que não envolve as modernas armas, mas,
sim, uma das formas de defesa e ataque mais antigas usadas pelo ser humano. Além disso,
indica a hombridade de Candelário ao propor o corpo-a-corpo, estando ele protegido por seu
gibão.
O adjetivo “desombrado”, escolhido pelo autor, apesar de soar familiar, não é uma
palavra dicionarizada em Língua Portuguesa. E fugiu ao dicionário de Nilce Sant’Anna
Martins (2020), em O Léxico de Guimarães Rosa, já citado anteriormente nesta pesquisa. A
autora Patrizia Bastianetto (1998), ao analisar a tradução dos neologismos de Rosa para o
italiano, informa: “Para a tradução do neologismo ‘desombrado’, na descrição do giibão (sic),
o tradutor emprega a locução giiidallespalle, ‘abaixo do ombro’. A modalidade tradutória é,
portanto, a equivalência” (BASTIANETTO, 1998, p. 131). Assim, temos que “desombrado”
seria um gibão posto abaixo do ombro ou, melhor, pendurado nos ombros, para uma lógica no
português.
Entendemos, ainda, que o prefixo des-, além de ser seguido de ombr (que remete
mesmo a ombro ou caído dos ombros), ecoa de -sombra, compondo “desombrado”, podendo
remeter também à des + sombra, ou seja, à ausência de sombra: um gibão sem sombra,
iluminado, claro como a opinião de Sô Candelário ao propor um duelo à faca para Zé Bebelo,
sem contornos em sua decisão, simples e direto no sertão onde “jagunço com jagunço — aos
peitos, papos” (ROSA, 2015, p. 222). Observando-se também que peito é justamente o local
de proteção do gibão, bem como as costas e os braços.
Além disso, a ligação gibão e sombra poderia remeter a um passado obscuro, de ações
do mal, ilustrando um sujeito das sombras, como foi o comportamento dos jagunços e
cangaceiros na história brasileira. E é justamente pela má fama que Riobaldo afirma logo no
início da narrativa que tinha ido consultar um médico em Sete Lagoas, e para isso escolhera
sua indumentária de forma a evitar que pudessem o confundir com jagunço: “Fui vestido bem,
e em carro de primeira, por via das dúvidas, não me sombrearem por jagunço antigo”
(ROSA, 2015, p. 27, grifo nosso). Logo, “vestido bem” se afastava do sombreamento do
passado violento, do lugar na sombra que o jagunço ocupa.
Retomando, ainda, a ideia do marco temporal inscrito no gibão de Sô Candelário,
temos, na peça, um indicador cronológico social, pois é o jagunço antigo que resiste,
resistência essa inscrita na moda.
Já em outra ocorrência do aparecimento do gibão na narrativa, a sinalização temporal
parece apontar também para uma marcação psicológica do tempo. Riobaldo, ainda em meio à
perseguição sofrida pelo bando comandado então por Medeiro Vaz, conta: “Diante de mim,
74
nunca terminava de atar as correias do gibão um Cunha Branco, sarado, cabra velho
guerreiro” (ROSA, 2015, p. 68). Percebemos, então, os seguintes aspectos: o gibão como uma
indumentária com várias correias que se necessitam atar para estar protegido na guerra, o que
confirma sua função de armadura; o jagunço que o vestia era um “velho guerreiro”,
reafirmando a moda antiga inerente à peça; e, ao se referir à demora no atar as correias do
gibão, pode-se ler que esse tempo era moroso para um Riobaldo ansioso, o que induz também
à leitura de um tempo psicológico.
Vemos, então, que o gibão, além de proteção, costura-se à cronologia do conflito, da
guerra. A indumentária ata-se à trama narrativa para pontuar o tempo dos acontecimentos
passados.
Posteriormente, a peça de couro aparece no nome de uma árvore: “Agalopando assim,
joguei fora meu revólver. Joguei — ou foi um ramo de rompe-gibão que relou arrancando a
arma de meu pulso” (ROSA, 2015, p. 402, grifo nosso). Na cena, Riobaldo se afasta do bando
que agora ele mesmo comanda, e caça um homem leproso que havia avistado. Diadorim o
segue e, em meio à distração com a presença do companheiro, o leproso acaba por fugir de
Riobaldo.
A árvore é chamada de “rombe-gibão”, dentre outros nomes, por possuir em seus
galhos espinhos grandes (SAPUTIABA, 2020), que seriam eficazes para rasgar até mesmo
um gibão de couro. Além disso, a espécie só nasce perto de cursos d’água ou do mar.
Juntando-se as informações sobre o nome da árvore ao fato da perseguição ao leproso
acontecer pouco antes de Riobaldo anunciar que iria atravessar o Liso do Sussuarão,
percebemos que há uma metáfora anunciando os perigos que viriam romper na travessia.
Assim, “rompe-gibão” também aponta para o caminho tortuoso, espinhento que o bando
enfrentaria logo em seguida. Serve também de indicativo de coragem com o gibão de cada
jagunço a romper o Liso do Sussuarão.
Os galhos da árvore, ainda, desarmam Riobaldo, bem como a presença de seu amigo
Diadorim. Seria o “rompe-gibão” um anúncio do segredo de Diadorim que o vestuário
esconde? Ao romper, rasgar como no final do romance, à faca, suas vestes de jagunço,
revelando o corpo feminino desse. O desarmar do protagonista por um rompe-gibão seria uma
metáfora da revelação do corpo de Diadorim?
Propomos essa “perigosa” ilação devido à sequência que se dá à narrativa: “Joguei —
ou foi um ramo de rompe-gibão que rolou arrancando a arma de meu pulso. Cheguei, esbarrei.
Meu cavalo, tão airoso, batia mão, rapava; ele deu um bufo de burro. Vi Diadorim” (ROSA,
2015, p. 402). Riobaldo vê Diadorim, após ser desarmado por um rompe-gibão. E no
75
parágrafo seguinte, desarma seu sentimento, revelando o conteúdo de seu próprio peito quanto
ao companheiro e faz ainda menção ao vestuário masculino do mesmo:
Mas Diadorim, conforme diante de mim estava parado, reluzia no rosto, com uma beleza ainda maior, fora de todo comum. Os olhos — vislumbre meu — que cresciam sem beira, dum verde dos outros verdes, como o de nenhum pasto. E tudo meio se sombreava, mas só de boa doçura. Sobre o que juro ao senhor: Diadorim, nas asas do instante, na pessoa dele vi foi a imagem tão formosa da minha Nossa Senhora da Abadia! A santa... Reforço o dizer: que era belezas e amor, com inteiro respeito, e mais o realce de alguma coisa que o entender da gente por si não alcança. Mas repeli aquilo. Visão arvoada. Como que eu estava separado dele por um fogueirão, por alta cerca de achas, por profundo valo, por larguez enorme dum rio em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações?! Me franzi. Ele tinha a culpa? Eu tinha a culpa? Eu era o chefe. O sertão não tem janelas nem portas. E a regra é assim: ou o senhor bendito governa o sertão, ou o sertão maldito vos governa... Aquilo eu repeli? (ROSA, 2015, p. 403, grifo nosso).
E antes que a qualquer conclusão chegasse sobre a possibilidade de seu amor pelo
homem “macho em suas roupas”, o próprio Diadorim recolhe do chão e entrega novamente a
arma à Riobaldo, armando-o novamente, como quem se fecha num gibão.
Além disso, na última citação ao gibão, a indumentária aparece novamente com a
imagem de Diadorim atrelada. Na memória de Riobaldo, há as recordações de seus devaneios
durante a travessia. E é em meio a um desses devaneios que novamente o gibão é citado na
narrativa para imaginar seu reencontro com Diadorim após ter procurado Otacília pelo sertão,
antes de finalmente caminhar ao Paredão, onde acontece o conflito final do romance. Assim,
lemos:
Agora minha alegria era mais minha, por outro destino. Otacília ia ter boa guarda. E então, por uma vez, eu peguei o pensamento em Diadorim, com certo susto, na liberdade. Constante o que relembrei: Diadorim, no Cererê-Velho, no meio da chuva — ele igual como sempre, como antes, no seco do inverno-de-frio. A chuva água se lambia a brilhos, tão tanto riachos abaixo, escorrendo no gibão de couro. Só esses pressentimentos, sozinho eu senti. O sertão se abalava? (ROSA, 2015, p. 464, grifo nosso).
Para além de imaginar Diadorim na roupa típica dos velhos jagunços, como vimos nas
outras aparições dessa peça, há certa sensualidade que enlaça um enorme traço erótico com a
liquidez da água, inequívoco símbolo do feminino, ao couro do gibão. A saudade faz com que
Riobaldo, tendo passado algum tempo distante, retorne devaneando Diadorim na chuva, no
gibão molhado. O uso do verbo “lambia” reforça o tom erótico na imaginação do
protagonista, bem como “escorrendo”. Dessa forma, o gibão aparece compondo-se como uma
peça misturada (feminina/masculina) e sensual a tomar o pensamento do narrador. Ao mesmo
76
tempo, sabemos que Diadorim foi morto a facadas. Assim, notamos que os pressentimentos
aos quais Riobaldo desconfia sentir sozinho podem estar ligados ao próprio sangue, o líquido
de Diadorim a escorrer no gibão, dando a chuva o tom melancólico à cena.
Portanto, apesar das poucas ocorrências, o gibão de Rosa participa da narrativa para
demarcar aspectos importantes da obra, costurando personagens a tempo e espaço específicos,
além de reforçar o encobrimento/descobrimento do segredo do corpo de Diadorim.
4.1.2 Calça: o homem
Atualmente, pensar em uma mulher vestindo calças não constitui uma diferença
significante em relação a um homem com tal peça de vestuário. Porém, até 1939, as calças
representavam um dos principais itens do vestuário masculino, ou seja, até a primeira metade
do século XX, a indumentária feminina era restrita a saias e vestidos. O uso de calças por
mulheres na cultura ocidental teve um marco principal: a Segunda Guerra Mundial. Assim,
“(...) pela primeira vez, usar calças de corte masculino na vida cotidiana tornou-se aceitável
para as mulheres; as calças ajudavam na mobilidade e evitavam a necessidade de usar meias”
(FOGG, 2013, p. 283).
Sobre a calça, nos séculos XIX e XX, Diane Crane (2006) afirma:
O papel da calça no vestuário feminino, ao longo do século XIX, ilustra as diferentes atitudes com relação ao vestuário entre as mulheres de classe média e as de classe operária. A cultura da era vitoriana associava calça à autoridade masculina. As reformadoras de vestuário tentaram convencer as mulheres de classes média e alta a usá-las, mas no geral não tiveram sucesso, provavelmente porque a visão que se tinha das mulheres que usavam calças era a de que tentavam usurpar a autoridade masculina (CRANE, 2006, p. 255, grifo nosso).
Pelo sertão, até mesmo as cangaceiras que compunham o bando de Lampião, como
Maria de Déa (conhecida como Maria Bonita, após a morte), atravessavam a caatinga
espinhenta usando saias ou vestidos de tamanho midi ou na altura dos joelhos, com meias
grossas e alpercatas de couro (A estética..., 2000; FEMININO... 2016).
Logo, não era costume no Ocidente mulheres usarem calças no final do século XIX e
início do XX, tempo no qual se passa a estória narrada por Riobaldo. Assim, temos algumas
calças em Grande Sertão: Veredas, todas simbolizando os sujeitos como homens.
A calça é uma peça que aparece mais vezes na narrativa do que o gibão. Mas é
mantida a economia de descrição da indumentária.
77
Sabemos que Riobaldo não se coloca em um gibão. E é curioso que com a calça o
mesmo venha a acontecer. Apesar de possuir a peça, nas duas ocorrências relativas a si em
que aparece, ele não a veste. Assim, o narrador conta, na primeira citação a essa peça: “Ele
[Diadorim] tinha lavado minha roupa: duas camisas e um paletó e uma calça, e outra camisa,
nova, de bulgariana” (ROSA, 2015, p. 40, grifo nosso) e a cena que antecede essa é o
encontro com Ana Duzuza, no qual descobre que Medeiro Vaz iria atravessar o Liso do
Sussuarão. Já na segunda vez, conta: “tinha pegado calça e camisa em mão, e esbarrei, num
demorado sem termo, no meio de me revestir, e eu num latejo frouxo pensando: – Não chego
em tempo... Não adianta... Não chego em tempo nenhum...” (ROSA, 2015, p. 470, grifo
nosso), episódio acontecido quando o conflito final com o bando do Hermógenes explode no
Paredão.
Notamos, então, que as duas citações sugerem que antes dos maiores perigos de sua
travessia — o Liso do Sussuarão e o confronto com os hermógenes — Riobaldo é “pego com
as calças nas mãos”, conforme o dito popular: ora nas próprias mãos, ora nas mãos de
Diadorim. A autoridade do protagonista, inscrita na masculinidade de sua calça, parece
abalada, já que ele não se encontra devidamente vestido para o evento.
Já sobre as calças alheias, Riobaldo descreve outras três personagens com a peça,
sendo o amigo Diadorim, o inimigo Hermógenes e o menino Guirigó.
No caso de Diadorim, a calça se funde ao corpo do sujeito. Assim, Riobaldo narra que,
em meio à perseguição ao grupo de Zé Bebelo, sob o comando de Joca Ramiro, em
determinado momento, o bando encontra-se descansando. E, na cena em questão, após ter
ficado um tempo deitado, “Diadorim se levantou, ia em alguma parte. Guardei os olhos, meio
momento, na beleza dele, guapo tão aposto — surgido sempre com o jaleco, que ele tirava
nunca, e com as calças de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido com aroeira-brava e
campestre” (ROSA, 2015, p. 151, grifo nosso). Assim, notamos que a escolha vocabular de
Rosa para descrever o material da calça de Diadorim parece anunciar algo sobre o gênero do
corpo que Riobaldo observa: “macho”. O vocábulo “veado” remete tanto ao animal do qual se
usa o couro para a confecção de tal calça, quanto ao uso em linguagem informal para se
referir à pessoa homossexual do sexo masculino (MICHAELIS, 2021). Além disso, nas
espécies de veados que ocorrem no Brasil, não há diferença de coloração entre a fêmea e o
macho, sendo os chifres os demarcadores de gênero, pois aparecem somente nos machos
(ARAGUAIA, 2021; LACERDA, 2008). Assim, quando Riobaldo vê a calça de Diadorim e a
descreve como feita com “couro de veado macho”, é possível entender a ambiguidade
78
presente nas calças do amigo, misturando-se a peça de indumentária ao gênero do corpo de
Diadorim interpretado pelo protagonista.
Já em outro momento, após o primeiro conflito do bando de Joca Ramiro contra os zé-
bebelos, Diadorim/Reinaldo se ausenta e Riobaldo tem notícias do amigo por outro jagunço:
E dizendo vou. No mais, que quando se alcançou o nosso bom esconder, num boqueirãozinho, já achamos companheiros outros, diversos, vindos de armas, e que chegavam separadamente, naquela satisfação de vida salva. Um era o Feijó. Será, se tinha avistado o Reinaldo sem perigo? A meio perguntei. Por causa que só em Diadorim era que eu pensava. O Feijó em tanto tinha notado: Diadorim, na retirada, bem conseguido; depois se retrasou, por uma cacimba de grota. — “...Estava com sangue numa perna de calça. Para mim, foi nada, arranho à-tôa...” O que me ensombreceu — então Diadorim estava ferido (ROSA, 2015, p. 184, grifo nosso).
Dessa forma, notamos que Feijó anuncia o ferimento de Diadorim fazendo da calça a própria
perna. A perna da calça estava com sangue; logo, o sujeito que a vestia estava ferido, o que
concluiu Riobaldo. A calça se funde ao corpo, sendo a própria pele do sujeito a sangrar. A
calça como a pele é material que se rasga e sangra.
Além disso, o fato de Diadorim sempre vestir calças, e não vestidos ou saias, no final
do século XIX e início do XX, permite-nos a observação sobre sua masculinidade e sua
autoridade no sertão, como homem e não como uma mulher vestida de homem. Como vimos,
segundo Frederico Pernambucano de Mello (A estética..., 2000; FEMININO... 2016), mesmo
em combate, as cangaceiras usavam vestidos e saias. As mulheres guerreiras do sertão podiam
usar chapéus, lenços de seda importados e todos os demais acessórios que os homens usavam,
com exceção das armas de maior tamanho e as calças. Esses itens, pelo sertão brasileiro,
pertenciam somente aos homens. Portanto, Diadorim em suas calças de veado macho poderia
ser um homem homossexual, ou ainda, como questionado por Laísa Bastos (2016), um
homem transexual homossexual:
Nunca saberemos por que Diadorim se apresenta como homem. Seria apenas um disfarce, como sugere o mito da donzela guerreira? Trata-se de uma identificação psico-social (sic) da personagem com o gênero masculino? Sabemos contudo que é assim que ele se apresenta enquanto personagem viva. Se, como afirmou Simone de Beauvoir, uma mulher não nasce mulher, torna-se, podemos conjecturar que Diadorim torna-se homem a partir de sua performatividade masculina. (...) se pensarmos em Diadorim como um homem trans também ele nutriria pelo amigo um desejo homoafetivo, irreconciável (sic) com a imagem que tem de si mesmo como um “jagunço muito macho”. Sob essa perspectiva, como pode a crítica, a exemplo do personagem Riobaldo, afirmar com exatidão o gênero de Diadorim? Esse é um problema que Riobaldo resolve para si, mas que Guimarães Rosa não resolve para nós, leitores (BASTOS, 2016, p. 338; 341, grifo em itálico da autora, grifo em negrito nosso).
79
Portanto, as calças de Diadorim representam a peça principal para a afirmação de sua
sexualidade e gênero. E sendo tão importantes para a personagem e para a sustentação da
narrativa, entende-se a naturalidade com que se funde ao corpo da mesma, rasgando-se e
sangrando como sua pele ferida em combate.
Há, ainda, a descrição dessa vestimenta no antagonista, Hermógenes. Riobaldo
menciona duas vezes as calças do inimigo, em dois momentos marcantes para a guerra contra
Zé Bebelo.
Primeiramente, estando na Fazenda São Gregório, de Selorico Mendes, em certa
madrugada, conhece os famosos jagunços que seu padrinho/pai tanto mencionava, quando
contava seus causos. Assim, dentre os seis homens ali presentes na casa principal para
tratarem do início da luta contra os bebelos, Riobaldo nota: “(...) As calças dele [Hermógenes]
como que se enrugavam demais da conta, enfolipavam em dobrados. As pernas, muito
abertas; mas, quando ele caminhou uns passos, se arrastava — me pareceu — que nem queria
levantar os pés do chão (...)” (ROSA, 2015, p. 105).
Temos, então, um Hermógenes pesado, preso ao chão, arrastando-se como cobra, e
com calças que se dobram de tão grandes para o corpo pequeno que as veste; calças que se
dobram como pele que cobra troca. Tem-se, portanto, uma personagem pequena dentro de
uma peça de indumentária grande, deixando, assim, Hermógenes reduzido na descrição da
cena. Então, Riobaldo, quando vê pela primeira vez Hermógenes, o vê como um chefe
reduzido, socado em suas roupas grandes. Tem-se também alguém sob o peso da perseguição,
que se esgueira pelo solo, que se arrasta sem levantar os pés do chão. Ou ainda, um herói
inferior na gradação aristotélica dos heróis, como lê David Arrigucci (1994), em seu ensaio
“O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa”, em que frisa que
Hermógenes é um ser híbrido de jiboia, ser ctônico, como um ser que emerge da terra.
Já a segunda observação sobre as calças do antagonista aconteceu enquanto estavam
acampados no Cansanção-Velho, poucos dias antes da explosão do conflito final contra o
bando de Zé Bebelo. Assim, Riobaldo traz uma descrição paradoxal àquela primeira, na qual
Hermógenes é “narrado” assim:
Naqueles dias ele andava de pé-no-chão, mais com uma calça apertada nas canelas e encurtada, e mesmo muito esmolambado na camisa. Até que de barba grande, parecia um pedidor. E caminhava com os largos passos, mais o muito nas pontas, vinha e ia com um sorrizinho besteante, rodeava por toda a parte (ROSA, 2015, p. 197).
80
Logo, essa descrição nos apresenta um Hermógenes que parece crescer além do tamanho de
seu vestuário, com uma calça apertada nas canelas e encurtada, como uma criança que cresceu
e continua a usar suas calças curtas. O corpo do antagonista, sob essa ótica, aparece
aumentado em relação ao vestuário, como se a importância dele no bando também
representasse maior poder pouco antes da captura de Zé Bebelo. Além disso, a forma leve
como ele anda sugere certa autoconfiança. E lembra, até mesmo, um balé, onde com calças
apertadas rodopia nas pontas dos pés em passos largos.
A descrição das calças de Hermógenes cria uma alegoria sobre o tamanho do corpo da
personagem, como figurino de teatro cujas proporções são ora muito aumentadas, ora muito
reduzidas, para causar ilusão de ótica nos espectadores, conotando, dessa forma, aspectos
sobre seu estado psicológico. Quando acuado, Hermógenes se encolhe; quando confiante em
sua vitória, parece maior e à vontade no sertão.
Por fim, as últimas calças citadas por Riobaldo vestem o menino Guirigó, no
inesperado encontro quando o bando de jagunços, comandado naquele momento por Zé
Bebelo, após a guerra na Fazenda dos Tucanos, passa pela abandonada fazenda de Seo Habão,
onde Guirigó praticava pequenos furtos:
Um rapazola retinto, mal aperfeiçoado; por dizer, um menino. Nu da cintura para os queixos. As calças, rotas em todas as partes, andavam cai’caindo; ele apertou perna em perna. (...) Cuido que por não perder de todo as calças como vestimenta, ele se ajoelhou — chato no chão, mais deitado do que ajoelhado. — “A benção!” — pois disse. (...) Arte que a aproveitar, ele tornou a atar melhor o resumo de embira, que cinturava aqueles molambos de calças (ROSA, 2015, p. 324).
As calças de Guirigó lembram as de Tiãozinho, do conto “Conversa de bois”, que
vimos no subcapítulo 3.2 deste trabalho. Calças que caem, largas, grandes demais para o
corpo que as veste. A mesma estratégia, então, é notada na escrita de Rosa: fazer os meninos
parecerem bem pequenos a partir de sua indumentária. Além disso, pode ser também pensada,
como naquele conto, sobre roupas herdadas, doadas, ou, no caso específico de Guirigó,
furtadas de sítios abandonados.
Além disso, as calças de Guirigó eram “rotas em todas as partes”, “molambos”, o que
denuncia sua condição social de miséria, pobreza. E mesmo nu da cintura para cima e
furtando em fazenda alheia, o menino parece querer obedecer ao código de respeito, evitando
ficar nu de todo, mantendo-se vestido como pode, em meio a seu susto ao ser interceptado
81
pelos jagunços. Guirigó aperta melhor a corda, “o resumo da embira” que segurava suas
calças, conseguindo desse modo se recompor, apesar de sua meia nudez.
Mesmo sendo um “Menino muito especial” (ROSA, 2015, p. 325), por sugestão de
suas feições, traços físicos e certo desconcerto na coordenação motora9, Guirigó entende a
importância de sua vestimenta para não desrespeitar os demais ao redor e para ser
reconhecido como homem, como ser humano. Nesse sentido, podemos recordar que,
anteriormente, outro menino, também especial, foi morto e comido pelo bando de jagunços ao
ser confundido com um macaco, o chamado José dos Anjos, que se encontrava “nu por falta
de roupa” (ROSA, 2015, p. 56).
Logo, as calças de Guirigó sinalizavam seu tamanho, sua pobreza e o configuravam
como homem em meio ao sertão. E a cena toda atrapalhada da sua tentativa de segurar as
calças demonstra sua dificuldade de habilidade motora, reforçando sua condição de “Menino
muito especial”.
Vimos, portanto, que João Guimarães Rosa se vale de diversas estratégias no uso das
calças em suas personagens. Mas todas elas afirmam a masculinidade do sujeito,
diferenciando-o das mulheres e dos animais. A calça faz do homem: homem e macho. Afirma
sua liberdade de movimentação quando devidamente vestida. Sugere, ainda, condições
sociais, físicas e psicológicas dos sujeitos. A calça, portanto, traz um leque de significados
mais diversos do que o gibão.
Porém, como não convém permanecer nem meio nu no sertão, veremos adiante o que
cobre o peito das personagens masculinas, dentre camisas, coletes-jalecos e tudo o mais,
descrito por Riobaldo.
4.1.3 Camisa estampada: o “pano do destino”
A camisa do final do século XIX e início do XX, segundo Diane Crane (2006), pode
ser pensada como o que hoje percebemos sobre a camiseta: uma peça democrática, de ampla
acessibilidade por todas as classes, diferenciando-se o seu preço pela matéria-prima e local de
produção. Em Grande Sertão: Veredas, há algumas dessas peças descritas que pedem nossa
atenção. Deter-nos-emos, então, em alguns aspectos sobre camisas que são “usadas” no texto
rosiano.
9 Características que podem sugerir, talvez, ser Guirigó um menino portador de Síndrome de Down: “(...) Olhos dele eram externados, o preto no meio dum enorme branco de mandioca descascada. (...) E quando espiava para a gente, era de beiços mostrando a língua à grossa, colada no assoalho da boca, mas como se fosse uma língua demasiada demais, que ali dentro não pudesse caber (...). Menino muito especial. (...).” (ROSA, 2015, p. 325).
82
O primeiro aspecto se liga ao fato de que Riobaldo descreve a camisa por sua matéria-
prima ou estampa que aponta para o desenho xadrez, o que poderia reproduzir as
encruzilhadas. Assim, têm-se “camisa, nova, de bulgariana” (ROSA, 2015, p. 40), “camisa de
xadrezim” (ROSA, 2015, p. 180) e “camisa de baetilha” (ROSA, 2015, p. 481), cada uma
pertencendo a uma personagem diversa.
Para compreender a camisa de xadrezim é necessário saber que, na tecelagem, xadrez
é um desenho feito geralmente no ato de tecer linhas de cores complementares (como a
vermelha na trama e a verde no urdume) para criar uma série de múltiplos quadrados que
formam encruzilhadas na estampa. Essa camisa, então, veste o jagunço Garanço, companheiro
de luta de Riobaldo, durante o primeiro confronto contra o bando de Zé Bebelo:
Ao que, eu descansava meus olhos nas costas do Garanço, ali quase em minha frente. O Garanço tinha arrumado no chão o bissaco e o cobertor, estava sem jaleco, só com a camisa de xadrezim. Eu vi o suor minar em mancha, na camisa, no meio das costas dele, Garanço, aquela nódoa escura ia crescendo, arredondada, alargada. O Garanço disparava, sacudia o corpo, ele era amigo meu, com minúcia de valentia. Rapaz de como se querer, homem de leal qualidade (ROSA, 2015, p. 180, grifo nosso).
Além disso, xadrez também faz menção ao jogo, levando-nos a pensar em peças no
tabuleiro quadriculado. Assim, Riobaldo observa seu amigo Garanço no meio da luta como
uma peça no tabuleiro de um xadrez reduzido, no diminutivo, observando as múltiplas
encruzilhadas na estampa da camisa de xadrezim, como quem anuncia que aquele era apenas
o menor dos conflitos que estariam por vir.
A encruzilhada na camisa de xadrezim também pode remeter ao fato de que Riobaldo
brigava agora contra Zé Bebelo, por quem anteriormente já havia lutado, deixando, dessa
forma, o protagonista em uma encruzilhada em meio aos dois bandos pelos quais lutou e luta.
A cena da observação da camisa parece anunciar mais uma informação na estampa
sugestiva:
(...) Escorei o cano do rifle, num duro de moita. Eu olhava aquele bom suor, nas costas do Garanço. Ele atirava. Eu atirava. (...) (...) Eu olhei. Olhava para as costas do Garanço, ela, a mancha, estava ficando de outra cor... O suor vermelho... Era sangue! Sangue que empapava as costas do Garanço – e eu entendi demais aquilo. O Garanço parado quieto, sempre empinado com a frente do corpo, semelhando que o cupim ele tivesse abraçado. A morte é corisco que sempre já veio (...) (ROSA, 2015, p. 182, grifo nosso).
Assim, tem-se a camisa de xadrezim empapada de sangue junto às costas do Garanço. A
narrativa cria uma imagem na qual podemos ver múltiplas encruzilhadas estampadas cobertas
83
por sangue. Pela mistura de recordações que Riobaldo narra, seria a camisa de xadrezim com
a mancha de sangue um anúncio dos perigos das encruzilhadas, incluindo-se o desfecho do
romance, cujo sangue na encruzilhada marca o momento da morte de Diadorim?
Essa ilação surge porque, além da camisa de xadrezim e suas encruzilhadas, outra
camisa também remete a uma estampa xadrez, sendo justamente a descrita no momento do
confronto final entre Diadorim e Hermógenes:
Sangue. Cortavam toucinho debaixo de couro humano, esfaqueavam carnes. Vi camisa de baetilha, e vi as costas de homem remando, no caminho para o chão, como corpo de porco sapecado e rapado... Sofri rezar, e não podia, num cambaleio. Ao ferreio, as facas, vermelhas, no embrulhável. A faca a faca, eles se cortaram até os suspensórios... (ROSA, 2015, p. 481).
Importa saber que “baetilha” é uma “espécie de flanela” (MICHAELIS, 2021), sendo
uma versão mais fina de baeta (tecido de lã grosso usado, sobretudo, para a confecção de
cobertores axadrezados). Portanto, novamente a descrição de Riobaldo nos traz uma camisa
cuja estampa geralmente é xadrez10 pelo tipo de tecido utilizado.
As duas camisas se entrelaçam no enredo revelando ser uma a anunciação da outra,
ambas terminadas com manchas do sangue da personagem que as veste. Em ambos os casos,
Riobaldo observa as camisas sem poder interferir no desfecho. Vê o sangue de Garanço
crescer em mancha em sua camisa de xadrezim; observa a sangrenta cena a qual a camisa de
baetilha compõe.
Além disso, no início de sua narração, em cerca de vinte páginas, Riobaldo rememora
que, ao saber por Ana Duzuza que Medeiro Vaz havia decidido atravessar o Liso do
Sussuarão, encontrou Diadorim o esperando: “Ele tinha lavado minha roupa: duas camisas e
um paletó e uma calça, e outra camisa, nova, de bulgariana (ROSA, 2015, p. 40, grifo
nosso). Na descrição, há um destaque especial para a camisa nova, com atenção à sua
composição: bulgariana.
O termo “bulgariana” se refere a um “Tecido simples e barato, ger. de padronagem
xadrez, us. para confecção de camisas e saias” (AULETE DIGITAL, 2021). Temos, também,
uma estampa xadrez que aponta para o Tabuleiro, sendo este o próprio relevo do Liso do
Sussuarão, conforme Riobaldo explica nos parágrafos anteriores:
10 Há camisas de baetilha e flanela lisas, porém, no interior do país, a preferência pela estampa axadrezada é notável ainda nos dias de hoje. Sobretudo, no vestuário dos homens sertanejos, residentes rurais. O xadrez parece remeter ao rústico. Vide a moda “camisa de lenhador”, bastante atual.
84
(...) A gente ali rói rampa... Ah, o Tabuleiro? Senhor então conhece? Não, esse ocupa é desde a Vereda-da-Vaca-Preta até Córrego Catolé, cá embaixo, e de em desde a nascença do Peruaçu até o rio Cochá, que tira da Várzea da Ema. Depois dos cerradões das mangabeiras... Nada, nada vezes, e o demo: esse, Liso do Sussuarão, é o mais longe — pra lá, pra lá, nos ermos. Se emenda com si mesmo. Água, não tem. Crer que quando a gente entesta com aquilo o mundo se acaba: carece de se dar volta, sempre. Um é que dali não avança, espia só o começo, só. Ver o luar alumiando, mãe, e escutar como quantos gritos o vento se sabe sozinho, na cama daqueles desertos. Não tem excrementos. Não tem pássaros (ROSA, 2015, p. 40, grifo nosso).
E, por emendar em si mesmo, o perigoso deserto lembra a trama do próprio tecido xadrez,
com fios que se entrelaçam cruzados a formar a estampa. Por isso, percebemos que a camisa
em destaque na descrição de Riobaldo pode estar anunciando, como as outras, os perigos e o
derramamento de sangue que posteriormente seriam narrados por ele.
E a estampa nos trazendo, agora sim, o xadrez associado diretamente a tabuleiro,
conforme “desconfiado” sobre a camisa de xadrezim de Garanço, permitindo que se leia
“jogo”, ou seja, conforme Castagnino (1969) observa, o jogo de xadrez, caríssimo à literatura
de Rosa e estratégia autoral que preza o ludus, a literatura com função lúdica, e, conforme Eco
(1994) e Iser (1979), propondo a leitura como jogo, a que o autor convida o leitor para jogar
— ou ainda, reformulando, seria um convite para que nós também vistamos os perigos da
camisa axadrezada, colocando-nos na pele das personagens?
Para além, logo na sequência em que cita a camisa de bulgariana, e menciona que
Diadorim lavava suas roupas, porque “praticava com mais jeito, mão melhor” (ROSA, 2015,
p. 40), dando assim um tom ambíguo ao gênero de seu amigo, Riobaldo lamenta não ter
perguntado à Ana Duzuza um resumo do futuro:
Também uma coisa, de minha, fechada, eu devia de perguntar. Coisa que nem eu comigo não estudava, não tinha coragem. E se Ana Duzuza adivinhasse mesmo, conhecesse por detrás do pano do destino? Não perguntei, não tinha perguntado. Quem sabe, podia ser, eu estava enfeitiçado? Me arrependi de não ter pedido o resumo à Ana Duzuza (ROSA, 2015, p. 41, grifo nosso).
Nesse momento, a escolha vocabular da função autor reforça a atenção à indumentária na
trama, fazendo com que as peças ali descritas possam ser o próprio “pano do destino”, como
vimos no subcapítulo sobre as calças e o encobrimento do corpo de Diadorim.
Por vir logo na sequência da “camisa de bulgariana”, diferenciada em sua descrição
em meio às outras peças, a narrativa parece nos convidar a olhar a estampa xadrez com mais
cuidado. Afinal, ela voltaria a anunciar as tragédias no enredo?
85
Para além das três camisas citadas, outra que parece anunciar algo em sua estampa é
inerente a um presente que Riobaldo ganha: “E o Reinaldo, doutras viagens, me deu outros
presentes: camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas (ROSA, 2015, p.
128). A estampa “riscado fino” é geralmente de tecido requintado, de peças de alfaiataria,
cujo desenho se faz em listras finas, iguais, com cerca de meio ou um centímetro de
espaçamento, mantendo-se as linhas em paralelo. São linhas, portanto, que seguem lado a
lado, por todo o percurso, sem se tocar, sem se encontrar, diferentes da estampa axadrezada,
em que linhas se entrecruzam. Assim, a estampa de riscado fino mantém sempre a mesma
distância, as linhas não se cruzam.
Sendo um presente de Diadorim/Reinaldo, poderia metaforizar a própria relação desse
com o protagonista: companheiros que seguiram toda a travessia lado a lado, mas que não se
cruzaram, mantiveram a distância entre seus corpos num espaço e tempo em que a
homossexualidade era condenada pela sociedade, em geral, e população sertaneja, em
particular.
Além disso, a própria construção da narrativa para chegar ao ponto da estampa de
riscado fino da camisa sugere a ideia do que é par, da dupla, do lado a lado, da cumplicidade.
Assim, parte-se do ponto em que Diadorim e Riobaldo ficam a observar pássaros, trazendo à
cena o favorito Manuelzinho-da-crôa que “sempre em casal” é “o pássaro mais bonito gentil
que existe” (ROSA, 2015, p. 126), seguido pela narração de que Diadorim afirma que os
nomes dos dois — “Riobaldo... Reinaldo...” (ROSA, 2015, p. 127) — dão par, para se chegar
ao ponto em que ambos cuidam, lado a lado, da aparência, tendo até mesmo Diadorim a cortar
os cabelos de Riobaldo. Por fim, rememorando a capanga com os utensílios de cuidado com a
qual Diadorim presenteia Riobaldo, o narrador também recorda os demais presentes, dentre os
quais está a “camisa de riscado fino”.
Tendo em vista o que dá par, pensemos novamente nas camisas de bulgariana e
baetilha. Sendo ambas de estampa xadrez, conforme vimos, e ambas podendo sugerir
desfechos para a narrativa, poderíamos pensar que também elas dão par?
A camisa de bulgariana é de Riobaldo. Já a camisa de baetilha parece ser de Diadorim,
conforme Riobaldo narra sobre o conflito final: “(...) esfaqueavam carnes. Vi camisa de
baetilha, e vi as costas de homem remando, no caminho para o chão, como corpo de porco
sapecado e rapado... (ROSA, 2015, p. 481, grifo nosso), logo, pela escolha do verbo
“esfaqueavam”, teríamos permissão para se ler que se tratava de mais de um agente, que eram
dois em conflito — Diadorim e Hermógenes —, e a sequência com o verbo “ver” sugere uma
soma, como se ele olhasse para um e para outro: “Vi (...), e vi (...)”. Assim, sabendo-se que
86
“as costas de homem” comparadas a um “porco” parecem fazer menção ao Hermógenes, já
que o antagonista, visto pela primeira vez por Riobaldo, foi descrito como tendo “(...) umas
costas desconformes, a cacunda amontoava, (...) se arrepanhava de não ter pescoço. (...) As
pernas, muito abertas (ROSA, 2015, p. 105), lembrando, portanto, a aparência de um suíno,
resta imaginarmos que a camisa de baetilha, notada pelo narrador, só poderia estar vestindo
Diadorim. Além disso, até que seu corpo estivesse morto, Diadorim jamais apareceu nu,
sendo muitas vezes descrito pela sua indumentária, o que reforça a ideia de que a camisa era
sua.
Então, percebendo que a camisa que fecha o romance pode ser de Diadorim/Reinaldo
e a que abre a trama é de Riobaldo, ambas axadrezadas e iniciadas pela mesma consoante,
como seus nomes — “Riobaldo... Reinaldo...” (ROSA, 2015, p. 127) —, no guarda-roupas do
Grande Sertão: baetilha e bulgariana dão par?
Com tudo isso em vista, percebemos que, em sua construção narrativa, Guimarães
Rosa optou novamente por trazer um fundo falso na escolha das camisas, estampando em seus
tecidos também aspectos caros à trama do romance.
Dobrando-se as camisas e as páginas, abriremos, no próximo subcapítulo, o
compartimento dos coletes-jalecos ou jalecos, para ler seus avessos e perceber seus arremates,
como fizemos com as demais peças de indumentária até aqui.
4.1.4 Colete-jaleco ou jaleco: proteção e afirmação social
Cada peça da indumentária de Grande Sertão: Veredas parece sinalizar aspectos tanto
da construção da narrativa em si quanto de particularidades sobre a sociedade sertaneja e as
personagens que as vestem. Assim, temos a calça como símbolo do masculino, a camisa como
estampa da encruzilhada e o gibão como marcação social do jagunço de tempo mais antigo
comparado ao que vive o narrador. Ao retirarmos mais um cabide rosiano, encontramos uma
peça que encena diversas funções: o colete-jaleco ou jaleco. Essa peça pouco citada no
romance é bastante representativa.
Ao retomarmos a análise sobre as calças, recordamos que Riobaldo observa Diadorim
em um momento de descanso no tempo em que estavam no início do conflito contra o bando
de Zé Bebelo. Naquela ocasião, o protagonista conta que seu amigo estava com “(...) as calças
de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido com aroeira-brava e campestre” (ROSA,
2015, p. 151). Além disso, Riobaldo ainda narra que Diadorim estava “(...) sempre com o
jaleco, que ele tirava nunca (ROSA, 2015, p. 151). Dessa forma, surge mais um elemento de
87
vestuário que nos leva a pensar sobre o corpo de Diadorim. Por que ele não tirava nunca o
jaleco ou colete-jaleco? Porque ele estava sempre surgindo vestido assim? O que a peça
esconde? Mas o que é um jaleco ou colete-jaleco, afinal?
Essa peça de indumentária, geralmente feita em couro, é típica do vaqueiro e dos
cangaceiros anteriores ao grupo de Lampião. Segundo Frederico Pernambucano de Mello (A
estética..., 2000), os cangaceiros, a partir de Lampião, passaram a vestir apenas uma espécie
de farda de brim e o gibão (em alguns casos), mas não o colete-jaleco, como forma de reduzir
o peso da indumentária. Porém, sabemos que, anteriormente, os cangaceiros ou jagunços
utilizavam tal peça graças ao registro fotográfico feito por Flávio de Barros, sobre a prisão de
um jagunço em 1897, divulgado em Os sertões, de Euclides da Cunha (2016, p. 603). E
mesmo este autor descreve, no capítulo “O Homem”, conforme vimos na análise do gibão, a
presença do colete: “(...)Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta; apertado
no colete também de couro (...)” (CUNHA, 2016, p. 119, grifo do autor em itálico, grifo
nosso em negrito). Assim, sabemos que o colete-jaleco não é um gibão, mas também não é
um colete comum, como os usados embaixo de ternos de alfaiataria, por exemplo.
Por ser de couro, como quase todas as outras peças utilizadas por jagunços, o colete-
jaleco se inclui nos itens usados por proteção contra as intempéries climáticas e as
adversidades do relevo da caatinga e do cerrado. Além disso, protege o peito e as costas das
balas dos inimigos durante os conflitos armados, oferecendo uma dupla camada de couro,
sendo, a outra, o gibão que é posto por cima do colete-jaleco. E por não possuir mangas,
permite maior liberdade de movimentos dos braços.
Na fotografia de Barros11 (apud CUNHA, 2016, p. 603), vê-se que o colete-jaleco
tinha a abertura para a cabeça, por onde se vestia o mesmo; era aberto nas laterais, nas quais
possuía amarrações por cordões, compondo-se o molde por dois retângulos inteiros de couro,
ligados por costura no ombro, sendo um para ser posto sobre o peito e o outro, sobre as
costas. Tem o comprimento até o quadril, sendo, portanto, mais curto que o gibão.
Antes de retomarmos o mistério dessa peça no corpo de Diadorim, ressaltamos que a
motivação de proteção inerente ao colete-jaleco é encenada pelo autor na figura do narrador
Riobaldo.
11 Não temos, aqui, intenção de reproduzir tal fotografia, bem como nenhuma outra imagem de indumentárias. Seguindo a lógica proposta por Barthes (2009) sobre a descrição de vestuário ser algo próximo da escrita literária, descrevemos aqui o que vemos na fotografia de Barros (apud CUNHA, 2016, p. 603) com o intuito de nos mantermos fiéis à temática literária desta pesquisa, convidando nossos leitores a criarem conosco o que se pode imaginar de um colete-jaleco na obra rosiana.
88
Em um primeiro momento, o colete-jaleco, ou somente denominado jaleco, aparece
quando o protagonista relembra a morte de Garanço, o jagunço que usava a camisa de
xadrezim, vista anteriormente. Sobre a cena, Riobaldo descreve que “O Garanço tinha
arrumado no chão o bissaco e o cobertor, estava sem jaleco, só com a camisa de xadrezim
(ROSA, 2015, p. 180, grifo nosso), logo, percebemos que seu companheiro de luta estava sem
o item de proteção que lhe custou a vida, findando-se morto no combate por um tiro que lhe
atravessou o peito e as costas, manchando de sangue a camisa de xadrezim.
Ainda sob a justificativa de proteção, o colete-jaleco, ou somente denominado jaleco,
aparece na narrativa vestindo Riobaldo que, agora como chefe do bando, encontrava-se, no
início da batalha no Tamanduá-tão — o conflito final —, parado “debaixo de uma árvore
muito galhosa” (ROSA, 2015, p. 449), montado em seu cavalo Siruiz, com os braços junto ao
corpo, refletindo sobre sua chefia, enquanto a guerra explodia ao seu redor. Nesse momento,
ele relembra:
E quando a guerra para o meu lado relambeu, feito repentina labareda dum fogo. Uns vieram, — deles, — bala batia e rebatia. Cortavam capim do chão, que riscavam com punhado de terra. Tch’avam partes de ramos da árvore por cima de mim, e vagens do angico, que então reconheci por isso. Como quieto fiquei. Eu não era o chefe? Mesmo que uma carga de rifle se passou em meu chapéu-de-couro-de-vaca, e que outra, zoante, em meu jaleco raspou. A mil, que não movi mão, mas dei desprezo. Mas, eu tivesse alargado braço e movido mão, para com tiros de meu revólver ripostar, e eu mal morto estava — ponto que enquadrado de passantes balas, que rentes, até quentes (ROSA, 2015, pág. 450, grifo nosso).
Logo, percebemos que o jaleco de Riobaldo o protegeu em meio à explosão do conflito
mesmo contra as balas de rifle que somente rasparam sem furar a peça, imagem essa que
reforça a ideia de armadura do jagunço, descrita por Euclides da Cunha (2016), em Os
sertões.
Além da proteção, o colete-jaleco também aparece entrelaçado ao sentimento de
Riobaldo por Diadorim. Nesse sentido, Riobaldo narra que, ao presentear Diadorim com seu
escapulário para o proteger durante a travessia do Liso do Sussuarão, com o bando que agora
comandava, “enfiei mão: por entre armas e cartucheiras, e correias de mochilas, abri à berra
meu jaleco e a minha camisa. Aí peguei o cordão, o fio do escapulário da Virgem — que em
tanto cortei, por não poder arrebentar — e joguei para Diadorim, que aparou na mão (ROSA,
2015, p. 403).
Nesse trecho, vemos que, além de querer proteger espiritualmente Diadorim, o
protagonista demonstra confiar tanto em seu amigo que abre o jaleco diante dele, deixando
assim seu peito à mostra. Além disso, a abertura de sua camada de proteção poderia
89
metaforizar o sentimento de Riobaldo por Diadorim, fazendo da indumentária sua própria pele
para encenar que abria também seu peito ao amor pelo companheiro, que fora questionado
logo no parágrafo anterior: “De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual,
macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações?!” (ROSA, 2015, p.
403).
Outro aspecto acerca do colete-jaleco de Riobaldo é encenado quando ele faz paragem
no pequeno povoado Verde-Alecrim. Ao se hospedar na casa das duas mulheres-damas —
Maria-da-Luz e Hortência —, que mandavam no lugar, o protagonista se deleita num ménage
à trois com elas, ficando, portanto, “perfeito descomposto nú” (ROSA, 2015, p. 428). Mas de
madrugada, a pedido delas, Riobaldo resolve convidar o vigia, Felisberto, para tomar um café
com eles no interior da casa. Nesse momento, preocupa-se com sua posição de autoridade
enquanto chefe do bando e narra:
(...) Só que, pelo respeito, eu sendo Chefe, não ia poder deixar o Felisberto me avistar assim, perfeito descomposto nú, como eu estava. Maria-da-Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei. Daí, entendi o desplante, me brabeei, com um repelão arredei a mulher, e desatei aquilo, joguei longe. Tornei a vestir minhas roupas, botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era algum saranga? Eu podia dar bofetadas — não fosse a só beleza e a denguice delas, e a estrôina alegria mesma, que meio me encantava (ROSA, 2015, p. 428, grifo nosso).
Observamos que, além da necessidade de se afirmar como macho em suas roupas,
achando um “desplante” o fato de entender-se nas roupas femininas de Maria-da-luz, a
importância do colete na composição da indumentária, para Riobaldo, na cena, dá-se por uma
motivação de cunho social, afinal, seu traje de Chefe só se completa vestindo “até jaleco”.
Essa necessidade de compor o traje com um colete parecia uma moda mundial, já que
é interpretada também pela socióloga Diane Crane (2006), ao analisar a indumentária de
trabalhadores estadunidenses, do final do século XIX. Em sua pesquisa, Crane (2006) afirma
que todos os trabalhadores rurais e até mesmo os ladrões de gado usavam coletes, porque “(...)
O colete do trabalhador rural constituía, na verdade, uma expressão de conformidade com o
estilo do período” (CRANE, 2006, p. 141), sendo usado inclusive com trajes mais informais.
Portanto, estar composto “até” com o jaleco parecia ser a regra, significava estar de acordo
com a sociedade, com o meio, portando-se como o uniformizado Chefe Riobaldo.
E por fim, parodiando o narrador, “vemos voltemos” ao início deste subcapítulo e,
assim, chegamos ao anunciado colete-jaleco de Diadorim, que, por duas vezes, aparece no
contar de Riobaldo.
90
Ao observar o amigo, trecho pelo qual questionamos a importância dessa peça para
Diadorim, Riobaldo narra: “Guardei os olhos, meio momento, na beleza dele, guapo tão
aposto — surgido sempre com o jaleco, que ele tirava nunca, e com as calças de vaqueiro,
em couro de veado macho, curtido com aroeira-brava e campestre (ROSA, 2015, p. 151, grifo
nosso). É informado, portanto, que Diadorim “tirava nunca” essa peça da indumentária
sertaneja. E esse “nunca” é confirmado quando Diadorim recebe a notícia do assassinato de
Joca Ramiro, seu pai, trazendo-nos a segunda citação ao colete-jaleco na cena narrada por
Riobaldo:
Caiu, tão pálido como cera do reino, feito um morto estava. Ele, todo apertado em seus couros e roupas, eu corri, para ajudar. A vez de ser um desespero. O Paspe pegou uma cuia d’água, que com os dedos espriçou nas faces do meu amigo. Mas eu nem pude dar auxílio: mal ia pondo a mão para desamarrar o colete-jaleco, e Diadorim voltou a seu si, num alerta, e me repeliu, muito feroz. Não quis apoio de ninguém, sozinho se sentou, se levantou. Recobrou as cores, e em mais vermelho o rosto, numa fúria, de pancada. Assaz que os belos olhos dele formavam lágrimas (ROSA, 2015, p. 246, grifo nosso).
Notamos, assim, que, mesmo em meio ao desespero reforçado pelos couros apertados
de sua indumentária que dificultavam sua respiração, Diadorim nunca tira seu colete-jaleco.
Permanece vestido, protegido dos males da guerra e dentro da regra social do vestuário
masculino do sertão. E é esse último ponto que nos parece mais importante sobre a peça que
sempre veste o corpo dessa personagem: o fato de que o jaleco encobriria os seios, apertando-
os, disfarçando-os e criando a ilusão de um peitoral masculino. Afinal, somente depois de
morto é que sabemos, junto a Riobaldo, que “Diadorim era o corpo de uma mulher, moça
perfeita...” (ROSA, 2015, p. 485).
Reforçamos, ainda, como foi analisado no subcapítulo sobre a calça, que o colete-
jaleco parece ter a mesma função daquela: afirmar o “macho em suas roupas” (ROSA, 2015,
p. 403), inscrevendo no corpo de Diadorim a sua transexualidade, já que “o gênero são os
significados culturais assumidos pelo corpo sexuado” (BUTLER apud BASTOS, 2016, p.
340). Temos, portanto, um “macho em suas roupas” enquanto vivo: Diadorim, por sua
indumentária, é um homem sertanejo. Tendo maior importância nessa afirmação social,
sobretudo, suas “(...) calças de vaqueiro, em couro de veado macho, curtido com aroeira-brava
e campestre” e seu colete-jaleco, “que ele tirava nunca” (ROSA, 2015, p. 151).
Restando-nos, ainda, analisar que, do ponto de vista social, a nudez do corpo morto de
Diadorim não basta para, como quis Riobaldo, significá-lo como “uma mulher, moça
91
perfeita...” (ROSA, 2015, p. 485), na tentativa de justificar sua perturbadora paixão pelo
amigo, já que, segundo Simone de Beauvoir (2016),
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino (BEAUVOIR, 2016, p. 11, grifo nosso).
Logo, Riobaldo apenas tem a informação de que aquele corpo sem suas roupas já não era mais
o homem Reinaldo/Diadorim, mas, ainda assim, não poderia se afirmar como mulher, já que,
para isso, Diadorim necessitaria comportar-se de acordo com o que “qualificam de feminino”
(BEAUVOIR, 2016, p. 11). Enquanto vivo, sujeito em ação, agente de sua existência,
Diadorim permanece vestido com seu figurino social, agindo como um homem. Portanto, o
jaleco de Diadorim também se funde ao seu corpo, significando sua identidade de gênero.
Fechamos, assim, a análise do colete-jaleco, para buscarmos outro item da
indumentária do sertanejo: o chapéu.
4.1.5 Chapéu: distintíssimo homem
De todos os itens da indumentária sertaneja, o mais citado é o chapéu, em Grande
Sertão: Veredas. Por ser tão marcante seu uso em todos os níveis e ambientes sociais,
sobretudo até a primeira metade do século XX, essa peça reflete, na narrativa de Riobaldo, um
espelhamento de hierarquia, código de conduta e status do sujeito.
Segundo Diane Crane (2006),
Até a década de 1960, o item de vestuário que desempenhava o papel mais importante em indicar distinções sociais entre os homens era o chapéu. O fato de ter deixado de fazê-lo na década de 1960 indica que, no século XIX, os chapéus, que continuaram a ser usados na primeira metade do século XX, eram particularmente apropriados para o ambiente social do período. Diversos tipos de chapéu surgiram ao longo do século XIX e foram rapidamente adotados em diferentes níveis sociais (CRANE, 2006, p. 167, grifo nosso).
Notamos que Guimarães Rosa se vale dessa característica distintiva social do chapéu,
para inserir no contar de Riobaldo aspectos sobre o status das personagens. Assim, dentre os
trechos, há a notável comparação que o protagonista faz de sua pobreza quando criança no
encontro com o menino:
92
Aí, pois, de repente, vi um menino, encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu-de-couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. (...) O chapéu-de-couro que ele tinha era quase novo (ROSA, 2015, p. 94; 97, grifo nosso).
Lembrança essa que retorna mais adiante na narrativa e que recobra a imagem do chapéu:
“Diadorim, o Reinaldo, me lembrei dele como menino, com a roupinha nova e o chapéu novo
de couro, guiando meu ânimo para se aventurar a travessia do Rio do Chico, na canoa
afundadeira” (ROSA, 2015, p. 335, grifo nosso).
Na sua recordação, o chapéu de Diadorim era quase novo, e Riobaldo não possuía
nenhum chapéu ou não o cita, concentrando-se somente na peça usada pelo Menino como um
contraste social, como se o que chamou a atenção no outro fosse o que fugisse ao seu poder de
posse: as roupas e o chapéu novos.
Além disso, Riobaldo ainda descreve que, ao retornar ao Paredão — após ter deixado
o bando para tentar encontrar Otacília no sertão —, Diadorim o esperava e que “Tudo estava
perfeito tranquilo. Diadorim – com chapéu xíspeto, alteado (ROSA, 2015, p. 464). Segundo
Nilce Sant’Anna Martins (2020, p. 530), o adjetivo “xíspeto” indica algo “De boa qualidade,
bonito”, portanto, ao caracterizar o chapéu de seu amigo, aponta para a condição financeira do
mesmo, como se ele possuísse peças de alto valor — quando menino, com seu chapéu novo;
quando moço, com seu chapéu xíspeto.
A posição social é tão marcante para Riobaldo, que ele só dá tamanha distinção pelo
chapéu a dois chefes: “Zé Bebelo, (...) com um chapéu distintíssimo na cabeça” (ROSA,
2015, p. 117) e “(...) Joca Ramiro (...) o chapéu dele se desabava muito largo. Dele, até a
sombra, que a lamparina arriava na parede, se trespunha diversa, na imponência, pojava
volume” (ROSA, 2015, p. 105). Logo, Zé Bebelo, primeiro e último chefe de Riobaldo, é
distintíssimo; enquanto o “grande homem príncipe” (ROSA, 2015, p. 26), Joca Ramiro, é
imponente como o filho, Diadorim.
Além dessa distinção das personagens de maior valia para Riobaldo, cuja expressão
pelo chapéu alcança o sentimento do protagonista pela admiração aos que descreve, essa peça
de vestuário também se entrelaça à narrativa para reforçar o que Crane (2006) afirma sobre a
sociologia inerente a seu uso:
O significado social dos acessórios de cabeça masculinos é indicado pelo fato de que, desde o início do século XIX, tem havido grande uniformidade naquilo que os homens americanos e europeus colocam sobre a cabeça. Em certo período, havia menos de uma dúzia de modelos de chapéu, cada qual podendo ser vendido com pequenas variações de cor, tamanho, formato da aba e material, as quais não eram
93
suficientes para impedir que os chapéus fossem reconhecidos como pertencentes a uma das categorias principais (CRANE, 2006, p. 169).
Assim, “‘Possuir um chapéu era um reconhecimento dos códigos que regiam a admissão em
uma esfera particular da vida pública em questão’” (SONENSCHER apud CRANE, 2006, p.
168), portanto, nenhum dos sujeitos do sertão queria estar fora do código de indumentária, da
linguagem corporal de conformidade com o status social.
Nesse sentido, outro menino ilustra bem essa interpretação sobre o símbolo social
encenado pelo chapéu. Assim, temos Guirigó que, após ter sido encontrado roubando a casa
de Seo Habão — no Valado, na travessia do Sucruiú —, vestindo somente uma calça
amarrada por um cordão de embira para não ficar nu de todo, como vimos anteriormente, ao
conviver com os jagunços e perceber os significados da indumentária, faz um pedido: “(...)
que um dia se mandasse costurar para ele uma roupa, e prover um chapéu-de-couro para o
tamanho de sua cabeça dele, que até não era pequena, e umas cartucheiras apropositadas”
(ROSA, 2015, p. 370). Logo, Guirigó procura fazer parte do bando, ser incluído.
Sobre isso, o pesquisador Frederico Pernambucano de Mello (A estética..., 2000)
relata que os ingressantes no grupo de Lampião alcançavam melhor nível na hierarquia
quando ganhavam apetrechos para compor sua indumentária, sendo o chapéu bordado com
estrelas de couro o mais importante item de sua vestimenta, pois, além das estrelas de
Salomão e a flor-de-lis serem símbolo de proteção contra todo o mal, o chapéu permitia a
identificação do sujeito no sertão como pertencente ao bando.
Há, ainda, outra ocorrência social inscrita na narrativa de Riobaldo que se relaciona à
descrição dos tamanhos dos chapéus das personagens. Ao encontrar, pela primeira vez, o
grupo de jagunços na Fazenda São Gregório, de seu padrinho/pai Selorico Mendes, o
protagonista descreve:
Assim que saí da cama e fui ver se era de se abrir, meu padrinho Selorico Mendes com a lamparina na mão, já estava pondo para dentro da sala uns homens, que eram seis, todos de chapéu-grande e trajados de capotes e capas, arrastavam esporas. Ali entraram com uma aragem que me deu susto de possível reboldosa. Admirei: tantas armas. Mas eles não eram caçadores. Ao que farejei: pé de guerra (ROSA, 2015, p. 104, grifo nosso).
Na ocasião, estavam Alarico Totõe e seu irmão Aluiz Totõe — fazendeiros abastados —, Joca
Ramiro — o chefe dos jagunços e fazendeiro importante —, Ricardão, Hermógenes e Alaripe
— jagunços de confiança do chefe, sendo os dois primeiros também fazendeiros ricos.
94
Portanto, sabemos que naquela reunião havia homens importantes, do alto da
hierarquia e do status, o que explica a preocupação de Riobaldo em informar que usavam
“chapéu-grande” todos eles. O tamanho de chapéu que usavam confirmava, então, seus
lugares na sociedade. Sobre isso, Crane (2006, p. 170) afirma que, no final do século XIX e
início do XX, os patrões e homens de alta classe, da elite em geral, começaram a ter a
preocupação de se diferenciar dos trabalhadores de classes inferiores. A partir disso, a cartola,
por exemplo, virou símbolo de luxo, sendo usada somente por homens de classes altas. E a
sua altura salientava a importância econômica do sujeito na sociedade: quanto mais alta a
cartola, maior a hierarquia. Nesse sentido, observamos que João Guimarães Rosa utiliza-se
dessa lógica em sua escrita, porém inverte o sentido vertical das altas cartolas para o
horizontal das largas abas dos chapéus, como se o poder do sujeito fosse tão largo quanto o
ambiente sertão — além da necessidade da sombra no clima de sol intenso.
Por isso, Riobaldo, nesse mesmo encontro na fazenda de Selorico Mendes, descreve o
chefe Joca Ramiro com um chapéu de aba muito larga, cuja sombra da lamparina na parede
“pojava volume” (ROSA, 2015, p. 105). E, como sujeito inferior no nível hierárquico e
antagonista, a Hermógenes restava um chapéu descrito pelo narrador como: “raso em cima,
mas chapéu redondo de couro, que se que uma cabaça na cabeça. (...) Naquela hora, eu estava
querendo que ele não virasse a cara. Virou. A sombra do chapéu dava até em quase na boca,
enegrecendo” (ROSA, 2015, p. 105).
Notamos que Rosa tanto espelha o poder na aba do chapéu que, ao descrever
novamente o de Hermógenes, já sobre o conflito final entre o antagonista e Diadorim,
Riobaldo relembra: “chefiando os dele, o Hermógenes! Chapéu na cabeça era um bandejão
redondo... Homem que se desata...” (ROSA, 2015, p. 480). Portanto, Hermógenes, agora
chefe de seu próprio bando e maior inimigo, possuía um chapéu maior, de aba que era “um
bandejão redondo”, aumentando assim sua circunferência, ocupando maior espaço de
diâmetro no sertão do que quando visto, pela primeira vez, acompanhando Joca Ramiro com
um chapéu que lembrava uma cabaça.
Dos demais significados inerentes ao uso do chapéu, Crane (2006) ainda cita que “‘um
homem sem chapéu era uma anomalia’” (SEVERA, 1995, p. 210 apud CRANE, 2006, p.
175). Assim, mesmo quando mortos, na narrativa de Riobaldo, os homens permanecem com
seus chapéus, como podemos ver na cena da morte de Marcelino Pampa:
E eu peguei puxei o corpo para não ficar em cima dum vestígio de lama — porque ali de noite tinha chovido; e Diadorim panhou o chapéu-de-couro, com qual tapou o rosto do dono. A paz no Céu ainda hoje-em-dia, para esse companheiro,
95
Marcelino Pampa, que de certo dava para grande homem-de-bem, caso se tivesse nascido em grande cidade (ROSA, 2015, p. 471-472).
Um homem só tirava seu chapéu em sinal de respeito, ou seja, existiam “Maneiras
requintadas de ‘tirar o chapéu’ como meio de expressar deferências aos seus superiores [que
refletiam] sua importância para marcar fronteiras de classe” (CRANE, 2006, p. 167). Esse ato
também se insere no romance rosiano, no qual há passagens como a que Riobaldo conta sobre
seu encontro com Seo Ornelas (fazendeiro que hospeda o bando na travessia): “Apreciei a
soberania dele, os cabelos brancos, os modos calmos. Bom homem, abalável. Para ele, por
nobreza, tirei meu chapéu e conversei com pausas” (ROSA, 2015, p. 369); ou quando,
sabendo da morte de Medeiro Vaz, Zé Bebelo demonstra seu respeito: “(...) Zé Bebelo tirou o
chapéu e se persignou, parando um instante sério, num ar de exemplo, que a gente até se
comoveu” (ROSA, 2015, p. 83).
Esse gesto social de tirar o chapéu em respeito acompanha a obra de Rosa inclusive no
conto “Os chapéus transeuntes” — publicado na póstuma obra Estas estórias, em 1969 —,
cujo título já anuncia a importância da indumentária. Nele, sabemos que a personagem Vovô
Barão está à beira da morte. E que tal avô não se dobra a ninguém, encenando em sua
personalidade subversões às lógicas sociais, como quando em seu último anúncio, antes de
falecer: “conservara-se de chapéu à cabeça. Para na aba tocar, com dois dedos, respeito aos
homens, e tirá-lo, para as senhoras, por completo, num gesto muito âmbito” (ROSA, 2015x,
p. 79). Logo, ao não tirar o chapéu para os homens, limitando-se a expressar respeito no
máximo por dois dedos na aba, a personalidade é reforçada como aquela do patriarca
imponente, casmurro, rabugento, que não se importa com as convenções sociais, e que não
respeita tanto assim os homens ao seu redor ou que nenhum mereça de fato tanto respeito;
além da ironia ao “desnudar-se” para as mulheres, mesmo que tal avô tenha construído um
muro na própria casa para se manter separado de sua esposa.
Ainda sobre este conto, o narrador recorda que as expressões, por parte do avô, no uso
de suas indumentárias eram constantes, contando-se que ia à missa “não raro de roupão, de
rodaque, e chinelos, ele que dentro de casa calçava quase sempre botas altas, ou escarpins de
saraus, quando não fortes grossas botinas ringidoras, conforme o capricho do humor, assim
como entrado em estreito colete, verde ou vermelho ou azul, e de chapéu de formato à
cabeça” (ROSA, 2015x, p. 60-61, grifo nosso). Mesmo vestindo-se, portanto, conforme o
humor, o chapéu para Vovô Brandão é de suma importância, acompanhando o formato de sua
cabeça (ou dando, a própria peça, o formato de sua cabeça). E, sendo transeunte, a peça
encena ainda o próprio sujeito, passageiro que atravessa rapidamente a estória para confirmar
96
sua última vontade e, por fim, falecer, quando de sua cabeça o chapéu cai e acaba pisado por
seus parentes. Assim, o chapéu encena a parte pelo todo, estratégia de criação que já vimos
com outras peças de indumentária rosiana, nesta pesquisa.
Vale ressaltar, ainda, em nossa análise, um último chapéu, sendo esse o mais diverso
do romance, cujo longo trecho que citaremos, a seguir, ressalta a atmosfera de seu mistério:
Aquilo, que eu ainda não tinha sido capaz de executar. Aquilo, para satisfazer honra de minha opinião, somente que fosse. — “Ah, qualquer dia destes, qualquer hora...” — era como eu me aprazava. O dum dia, duma noite. Duma meia-noite. Só para confirmar constância da minha decisão, pois digo, acertar aquela fraqueza. Ao que, alguma espécie aquilo continha? Na verdade real do Arrenegado, a célebre aparição, eu não cria. Nem. E, agora, com isto, que falei, já está ciente o senhor? Aquilo, o resto... Aquilo — era eu ir à meia-noite, na encruzilhada, esperar o Maligno — fechar o trato, fazer o pacto! Vejo que o senhor não riu, mesmo em tendo vontade. Também tive. Ah, hoje, ah — tomara eu ter! Rir, antes da hora, engasga. E eu me enviava pelo sério. Uma precisão eu encarecia: aí, de sopesar minhas seguidas forças, como quem pula a largura dum barranco, como quem saca sua faca para relumiar. E veio mesmo outra manhã, sem assunto, eu decidi comigo: — É hoje... Mas dessa vez eu ainda remudei. Sem motivo para sim, sem motivo para não. Delonguei, deveras. Não é que, não foi de medo. Nem eu cria que, no passo daquilo, pudesse se dar alguma visão. O que eu tinha, por mim — só a invenção de coragem. Alguma coisice por principiar. O que algum tivesse feito, por que era que eu não ia poder? E o mais — é peta! — nonada. Do Tristonho vir negociar nas trevas de encruzilhadas, na morte das horas, soforma dalgum bicho de pelo escuro, por entre chorinhos e estados austeros, e daí erguido sujeito diante de homem, e se representando, canhim, beiçudo, manquinho, por cima dos pés de bode, balançando chapéu vermelho emplumado, medonho como exigia documento com sangue vivo assinado, e como se despedia, depois, no estrondo e forte enxofre. Eu não acreditava, mesmo quando estremecia. T’arreneguei (ROSA, 2015, p. 336-337, grifo nosso).
Riobaldo narra a lembrança de um devaneio que tivera pouco antes de chegar à
fazenda de Seo Habão, enquanto ainda esperava no lugar chamado Coruja, que serviu de
parada ao bando sob o comando de Zé Bebelo. Naquele momento, eles buscavam o grupo do
Hermógenes, e o assunto sobre o antagonista ser pactário permeava o imaginário do
protagonista. Além disso, os pensamentos de Riobaldo sobre o diabo acontecem pouco antes
de sua decisão em fazer ele mesmo um pacto nas Veredas-Mortas — evento que irá
questionar por toda a vida.
Na imaginação de Riobaldo, o Maligno aparece sob a forma de um “bicho de pelo
escuro”, com “pés de bode”, que se faz “erguido sujeito diante de homem” cuja única peça de
indumentária é um “chapéu vermelho emplumado”.
A descrição do chapéu do demo — diabo, Tristonho, Arrenegado, Maligno etc. — é
ambígua, afinal, o chapéu costumava ser um item “obrigatório” do vestuário masculino, no
final do século XIX e início do XX, mas sendo emplumado, neste período de tempo, nos leva
97
a pensar em algo feminino, enfeitado, como os utilizados pelas mulheres parisienses no
período da Belle Époque — cerca de 1890 a 1920 (FOGG, 2013, p. 197). Mas se pensado
como algo de séculos anteriores — como o XVI e o XVII —, seria um item escolhido por
monarcas franceses ou imperadores (FOGG, 2013, p. 86). Assim, teríamos pelo chapéu
femininamente emplumado, se em moda atual à época do romance rosiano, um demônio
citado no masculino como sujeito duplo em seu gênero por sua indumentária feminina; ou se
em chapéu masculino de moda ultrapassada, que recorde monarcas ou imperadores dos
séculos anteriores, um demônio que reina soberano nas terras do sertão.
Reforçado a ambiguidade do demo, segundo Crane (2006) e Fogg (2013), os chapéus
comuns aos homens usados no final do século XIX e início do XX eram geralmente nas cores
preta ou marrom, além do chapéu palheiro, num tom bege claro. A tonalidade vermelha
ligava-se principalmente ao modelo de chapéu chamado “galero”, que era um item de
indumentária católica, exclusiva dos cardeais (abaixo do Papa, o cargo de maior hierarquia
dentro da Instituição). Sabe-se do uso do chapéu galero desde o século XIV, mas somente em
1905 foi regulamentado pelo Papa Pio XI, e permaneceu nos rituais católicos até 1969,
quando a Igreja compreendeu que o uso de itens tão elaborados poderia afastar o povo de seus
líderes. Porém, os cardeis continuaram a utilizar a cor vermelha no solidéu, que substituiu o
chapéu galero (WIKIPÉDIA, 2019).
Sendo o diabo personagem presente na doutrina cristã, talvez se possa construir,
interpretativamente aqui, também a ambiguidade que envolve a figura imaginada por
Riobaldo com seu chapéu vermelho emplumado: o chapéu do masculino com as plumas do
feminino, como já dito, somado ao fato de vestir a cabeça de um demônio, enquanto ao
mesmo tempo é importante peça da indumentária de representantes de Deus — “O diabo na
rua, no meio do redemunho...” (ROSA, 2015, p. 21), tudo muito misturado tecendo o mistério
da cena imaginada por Riobaldo.
Percebemos, portanto, que ao escolher cada chapéu para cada personagem, Guimarães
Rosa mantém a fragmentação que envolve todo o seu romance num véu, assim, Riobaldo não
diz muito sobre cada um, mas um pouco sobre cada. Porém, não escapa, à narrativa, a
importância social do chapéu como incorporação do sujeito em seu meio, ou ainda, retomando
o conto “Os chapéus transeuntes”: “o chapéu, que compõe o homem” (ROSA, 2015x, p. 77).
Nesse sentido, lembramos, também, o conto “O capítulo dos chapéus”, de Machado de Assis
(1884), no qual a personagem Conrado Seabra reflete que “(...) pode ser até que nem mesmo o
chapéu seja complemento do homem, mas o homem do chapéu...” (ASSIS, 1884).
98
4.1.6 Sapato, bota, alpercata: a hierarquia
A invenção do calçado se deu por motivação de proteção. Tanto em locais com clima
quente quanto nos muito frios, há registros em pinturas do uso de calçados, além de alguns
pares encontrados fossilizados (ANAWLAT, 2011). Com o passar do tempo, outra motivação
passou também a se relacionar com o uso de calçados: o status. Assim, “civilizações da
Antiguidade, como a dos egípcios, já utilizavam do artefato calçado como um diferenciador
social. Apenas os mais abastados usavam sandálias com joias incrustadas, como o faraó e sua
rainha; os pobres e escravos andavam descalços” (FERREIRA, 2010, p. 85). Além disso, o
calçado é também usado como uniformizador, compondo indumentárias de classes
trabalhadoras específicas (CRANE, 2006). Assim, sabemos que calçamos todos os dias peças
para nos proteger, nos diferenciar e/ou nos uniformizar.
Em Grande Sertão: Veredas, a motivação de diferenciação social é a mais recorrente,
demarcando níveis hierárquicos e de classe. Poucas personagens ganham essa peça de
indumentária, sendo quase exclusiva dos chefes, ricos fazendeiros e trabalhadores de alta
patente. A quantidade de tipos de calçados também é bastante reduzida, sendo descritos
apenas quatro modelos: sapato, botina, bota e alpercata.
A primeira citação na narrativa é a lembrança recente que Riobaldo tem acerca de seu
encontro no trem com o delegado profissional Jazevedão, um homem bruto que “Não ria”
(ROSA, 2015, p. 27). Essa personagem deixa cair alguns papéis, e o protagonista, sentado
próximo, abaixa para pegá-los e devolver. Ao abaixar, nota o calçado do delegado:
Até as solas dos sapatos dele — só vendo —que solas duras grossas, dobradas de enormes, parecendo ferro bronze. Porque eu sabia: esse Jazevedão, quando prendia alguém, a primeira quieta coisa que procedia era que vinha entrando, sem ter que dizer, fingia umas pressas, e ia pisava em cima dos pés descalços dos coitados. E que nessas ocasiões dava gargalhadas, dava... (ROSA, 2015, p. 28).
Na cena, nota-se que os sapatos de Jazevedão seriam também um “instrumento de
tortura” utilizado contra os sujeitos que são presos em sua delegacia. O poder se instaura tanto
pelo fato da personagem ser alguém calçado em um local onde outros andam descalços,
quanto na bruteza de suas solas “dobradas de enormes”, pisando nos pés dos coitados presos.
A utilização dos sapatos como uma espécie de ferramenta de tortura pela polícia lembra a
estratégia utilizada pelo poeta Chacal, no poema “rápido e rasteiro”, que citamos no
subcapítulo 3.2 desta pesquisa. A ideia é a de que o delegado se funde com a bruteza de seu
sapato e instaura sua autoridade também pelas duras e grossas solas de sua indumentária.
99
Jazevedão é a única personagem que calça sapatos na narração de Riobaldo. Como se os
sapatos fossem um uniforme policial, mas que, mesmo uniformizando, distinguem as
autoridades no sertão.
Já na diferenciação de hierarquia e classe social na travessia do bando de jagunços, as
botas ilustram os chefes, políticos e fazendeiros, pessoas abastadas em geral. Por isso,
enquanto ainda é moço, dependente de seu padrinho/pai Selorico Mendes, como já dissemos,
Riobaldo relembra, de quando se hospedou no Curralinho: “Lá eu não carecia de trabalhar, de
forma nenhuma, porque padrinho Selorico Mendes acertava com Nhô Marôto de pagar todo
fim de ano o assentamento da tença e impêndio, até da botina e roupa que eu precisasse”
(ROSA, 2015, p. 102). Assim, enquanto afilhado/filho de um rico fazendeiro, o protagonista
calçava botinas ao invés de andar descalço. Podemos, ainda, observar que a grafia da palavra
“botina” aponta para uma forma diminutiva de “bota”, o que nos parece um modo de dizer
sobre a condição de dependente/filho daquele que provavelmente usaria botas, como os
demais fazendeiros. Como se a botina em relação à bota soasse algo do dito popular “filho de
peixe, peixinho é”.
Sobre isso, observamos o fato de que, posteriormente, quando foge da fazenda de
Selorico Mendes e rompe com a figura paterna, Riobaldo passa a usar somente alpercatas:
“(...) Assim o Paspe tinha agulhas grandes, fio e sovela: consertou minhas alpercatas (...)”
(ROSA, 2015, p. 159); “(...) Eu apertei o pé na alpercata, espremi as tábuas do assoalho (...)”
(ROSA, 2015, p. 276), buscando, talvez, uma forma de se misturar com o bando de jagunços
para o qual ingressara, uniformizando-se entre os sujeitos que atravessam e lutam no sertão.
O uso de alpercatas, na história brasileira da indumentária sertaneja, era comum entre
os pobres, pela necessidade de um sapato barato e resistente, além de ser uniforme de
jagunços/cangaceiros, tendo até mesmo um modelo exclusivo criado por Lampião para o seu
bando, ao adicionar uma tira a mais de couro para prender melhor no pé e não soltar durante a
fuga. Além disso, vale lembrar a já citada pesquisa de Frederico Pernambucano de Mello (A
estética..., 2000), pela qual sabemos que Lampião encomendava alpercatas com solados no
formato de um retângulo, evitando assim que as pegadas do bando servissem de informação
sobre a direção em que seguiam em suas fugas, conforme vimos no subcapítulo 2.1. Logo, a
marca retangular no solo não permitia à polícia saber se o bando ia ou vinha do ponto onde a
encontrassem.
Por ser uniforme de jagunços/cangaceiros, poderíamos pensar, também, que, como
apelido dado a Jõe Bexiguento, o “Alpercatas” (ROSA, 2015, p. 185), conota a essa
personagem aspectos sobre sua condição mesma de ser um jagunço, com suas ligeiras
100
sandálias a atravessar o sertão confundindo policiais e protegendo os pés dos espinhaços,
fazendo da parte de sua indumentária — as alpercatas — o todo do sujeito — “o Alpercatas”
—, caminhando em passos firmes por sua sina determinista, conforme sugere Euclides da
Cunha (2016) sobre os cangaceiros que descreve em Os sertões, tendo por destino lhe restado
apenas ser mesmo jagunço:
Pecados, vagância de pecados. Mas, a gente estava com Deus? Jagunço podia? Jagunço — criatura paga para crimes, impondo o sofrer no quieto arruado dos outros, matando e roupilhando. Que podia? Esmo disso, disso, queri, por pura toleima; que sensata resposta podia me assentar o Jõe, broeiro peludo do Riachão do Jequitinhonha? Que podia? A gente, nós, assim jagunços, se estava em permissão de fé para esperar de Deus perdão de proteção? Perguntei, quente. — “Uai?! Nós vive...” — foi o respondido que ele me deu. Mas eu não quis aquilo. Não aceitei. Questionei com ele, duvidando, rejeitando. Porque eu estava sem sono, sem sede, sem fome, sem querer nenhum, sem paciência de estimar um bom companheiro. Nem o ouro do corpo eu não quisesse, aquela hora não merecia: brancura rosada de uma moça, depois do antes da lua-de-mel. Discuti alto. Um, que estava com sua rede ali a próximo, de certo acordou com meu vozeio, e xingou xiu. Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que sempre me invocou, o senhor sabe: eu careço de que o bom seja bom e o ruim ruím, que dum lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza! Quero os todos pastos demarcados... Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si; mas transtraz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que, este mundo é muito misturado... Mas Jõe Bexiguento não se importava. Duro homem jagunço, como ele no cerne era, a ideia dele era curta, não variava. — “Nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. Vivo, jagunceio...” — ele falasse. Tudo poitava simples. Então — eu pensei — por que era que eu também não podia ser assim, como o Jõe? Porque, veja o senhor o que eu vi: para o Jõe Bexiguento, no sentir da natureza dele, não reinava mistura nenhuma neste mundo — as coisas eram bem divididas, separadas. — “De Deus? Do demo?” — foi o respondido por ele — “Deus a gente respeita, do demônio se esconjura e aparta... Quem é que pode ir divulgar o corisco de raio do borro da chuva, no grosso das nuvens altas?” E por aí eu mesmo mais acalmado ri, me ri, ele era engraçado. Naquele tempo, também, eu não tinha tanto o estrito e precisão, nestes assuntos (ROSA, 2015, p. 187, grifo nosso).
Assim, as alpercatas na trama rosiana parecem encenar o próprio jagunço, calçando
desde os pés de Riobaldo, enquanto na travessia, ao apelido de Jõe Bexiguento, o jagunço que
nasceu para ser jagunço, mesmo que a ideia acerca do determinismo sugerida por Euclides da
Cunha (2016) seja criticada por João Guimarães Rosa, em Grande Sertão: Veredas, a partir
do questionamento sobre a reversibilidade de tudo (BOLLE, 2004).
Todavia, voltando às botas, Riobaldo descreve cinco vezes suas aparições durante a
travessia, sendo todas de chefes, fazendeiros e políticos. Logo, têm-se na trama, as “(...) botas
de caititú, tão antigas (...)” (ROSA, 2015, p. 37), de Medeiro Vaz, ex-fazendeiro e chefe dos
jagunços; “(...) as botas russianas (...)” (ROSA, 2015, p. 43), de Joca Ramiro, chefe maior e
grande fazendeiro; as “(...) botas amareladas (...)” (ROSA, 2015, p. 114), de Zé Bebelo,
político e chefe; as “(...) pretas botas joelhudas (...)” (ROSA, 2015, p. 337), de Seo Habão,
101
fazendeiro e capitão da guarda nacional; e as “(...) botas-de-montar muito boas, dessas de
couro de sucurijú, de que eles faziam antigamente (...)” (ROSA, 2015, p. 435), de Zabudo,
fazendeiro.
Notamos, portanto, que as botas eram um artigo de luxo, restringindo seu uso a
homens de poder, alta classe social e elevada hierarquia. A matéria-prima diversificada de
cada uma delas insere particularidades sobre cada poderoso sujeito.
Medeiro Vaz usava botas de couro de caititú — um animal cujo comportamento é o de
andar em bando e ser diurno, também chamado de porco-do-mato (AULETE DIGITAL,
2021; MARTINS, 2020, p. 93) — e eram “tão antigas”, o que nos leva a pensar que a menção
à matéria-prima das botas desse chefe aponta para o próprio sujeito, “(...) um homem
antigo...(...)” (ROSA, 2015, p. 26) que percorreu a trama sempre em bando, morrendo cercado
de couros.
Nesse sentido, o fazendeiro Zabudo também parece ter sua idade espelhada na bota,
cujo modelo “faziam antigamente”, além do tipo de material apontar para a malícia do sujeito
ambicioso: couro de sucurijú, ou o mesmo que sucuri (MARTINS, 2020, p. 471), cobra que
mata por asfixia suas presas, apertando-as até que fiquem sem respirar (CRUZ, 2021); afinal,
a hospedagem do bando de Riobaldo, na Fazenda Carimã, só não foi um bote porque o
protagonista resolve ir logo embora:
Ele se saiu quite, por pouco não pegou até dinheiro meu emprestado. Mesmo pelos cavalos e burros que cedeu, recebeu igual quantidade dos nossos, bem melhores, somente que estavam cansados. Teve até permissão de conservar o dele próprio, o baio, que disse ser de venerada estimação, por herdado pessoal do pai. Nele, amontado prazido, naquela dita cutuca, pandegamente, pois ainda veio, por quarto-de-légua, fazendo companhia à gente. Coisa assim, não se vê. Tanto ambicionava, que nem temia (ROSA, 2015, p. 438, grifo nosso).
Além disso, a figura da cobra não venenosa, mas fatal, ligada a essa personagem que
cerceia o bando de Riobaldo, como quem aperta ao redor até sufocar, lembra-nos do que
Antonio Candido (2004) afirma sobre a liberdade do jagunço versus a máquina econômica
representada por fazendeiros, como o Zabudo:
É interessante notar, a propósito, que, quando ambos [Riobaldo e Zabudo] entram em contato, o risco (ao contrário do que seria normal) é todo do jagunço, não do homem da ordem. Este constitui uma ameaça à natureza do jagunço, um perigo de reduzi-lo à peça de engrenagem, destruindo a sua condição de aventura e liberdade (CANDIDO, 2004, p. 113).
102
Portanto, as botas de Zabudo, de couro de cobra sucurijú e tão antigas, parecem
ilustrar o sistema econômico em si, antigo e sufocante, do sertão.
Já as botas do fazendeiro Seo Habão parecem espelhar outra espécie de ambição: a de
controlar o bando como a um batalhão, já que ele era capitão. Assim, a cor preta lembra-nos
algo típico dos uniformes militares, como seus coturnos pretos. E a extensão da bota até o
joelho, maior do que todas as outras botas descritas na narrativa — com exceção das de Joca
Ramiro —, remete ao status de Seo Habão como homem poderoso e abastado.
Na sequência, as “botas amareladas”, de Zé Bebelo, permitem duas vias de
interpretação: pela cor amarela; pelo desgaste do material. Quanto à cor amarela, as botas do
“deputado” parecem se aproximar do material comumente utilizado para fabricar alpercatas,
feitas de couro bovino, geralmente em um tom caramelo (A estética..., 2000). Assim, Zé
Bebelo estaria tanto próximo dos jagunços pelo material, quanto dos fazendeiros pelo fato de
usar botas. Além disso, sendo aspirante a político — deputado — a cor amarela pode remeter
ao que é nacional, sendo a bota o amarelo no verde do sertão, além de também vestir brim
azul, o que refletiria a própria bandeira brasileira nas cores da indumentária da personagem.
Todavia, a escolha do adjetivo “amareladas” parece dizer daquilo que amarelou,
perdeu a cor, desbotou, envelheceu, uma ideia ligada à avançada idade, como no conto — já
mencionado — “Os chapéus transeuntes”, em que aquele narrador de Guimarães Rosa conta
que o moribundo Vovô Barão se encontrava “na amarela idade” (ROSA, 2015x, p. 75).
Assim, o adjetivo, na descrição das botas de Zé Bebelo, permite-nos interpretar o calçado do
“deputado” como a sua própria condição política, afinal, “Zé Bebelo quis ser político, mas
teve e não teve sorte: raposa que demorou” (ROSA, 2015, p. 26).
Ao contrário disso, as “botas russianas” de Joca Ramiro trazem a indumentária do
“grande homem príncipe — [que] era político!” (ROSA, 2015, p. 26). A denominação
escolhida para as botas do maior chefe de Riobaldo parece apontar para a alta qualidade do
item, além de incluir significações acerca da extensão territorial abrangida por Joca Ramiro,
fazendo menção até mesmo àquilo que é internacional: “russilhonas: s. f. pl. || (Bras., Sul)
botas altas para montar; russianas (Nordeste). Cf. Roque Callage, Vocabul. Gaúcho, p. 120,
ed. 1928. F. de Rússia, n. pr. (por terem sido de couro da Rússia)” (AULETE DIGITAL,
2021). Logo, temos, a partir desse verbete, o conhecimento de que “russianas” é sinônimo de
“russilhonas”, uma denominação gaúcha para um tipo comum, no Sul do país, de bota de
montaria de cano muito alto, cujo comprimento ia até a metade da coxa, e que, por volta do
século XVIII, eram importadas da Rússia (BOTAS..., 2017).
103
As botas de Joca Ramiro, então, nos fazem questionar a origem do próprio sujeito —
seria um gaúcho? —, bem como ampliar a percepção sobre seu status, tanto em hierarquia
política, por atravessar o Brasil do Sul ao Nordeste — ação que geralmente interessava
somente aos altos cargos governamentais —, quanto por sua condição social que o permitia
adquirir produtos importados tão raros e caros até a segunda metade do século XX, no Brasil.
Além disso, é o chefe com as maiores botas, cuja extensão alcança as coxas, passando dos
joelhos, superando em poder, assim, até mesmo o capitão Seo Habão.
O que pudemos observar das escolhas feitas por João Guimarães Rosa para a
ilustração de suas personagens é que, em poucos itens, a descrição de Riobaldo traz,
sobretudo, aspectos históricos e sociológicos inerentes aos calçados, como as alpercatas aos
jagunços pobres e as botas aos homens de alta classe, ajudando, dessa forma, a construir a
verossimilhança quanto ao espaço e tempo da narrativa. Além disso, cada bota analisada
separadamente nos ajuda a perceber a dimensão de cada chefe e aspectos de sua
individualidade.
4.1.7 Lenço, capanga bordada e cinto-cartucheira: acessórios historientos
Como últimos itens de nossa pesquisa, recortaremos três peças para destacar aspectos
importantes construídos, na narrativa, a partir dos acessórios na indumentária de Grande
Sertão: Veredas. Não temos, portanto, a intenção de esmiuçar todos os acessórios presentes
na trama, mas recortar, como exemplo, o trio que insere específico contexto histórico à obra:
o lenço de Zé Bebelo, a capanga bordada de Diadorim e o cinto-cartucheira de Riobaldo.
Assim, esses três acessórios da indumentária descrita por Riobaldo parecem costurar
ao romance o fio da história brasileira do cangaço/jagunçagem, conforme comparação feita
com base na análise de Frederico Pernambucano de Mello (A estética..., 2000;
DOCUMENTÁRIO..., 2016) sobre peças utilizadas pelos cangaceiros no final do século XIX
e início do XX.
Temos, então, o lenço de Zé Bebelo a inaugurar nossa interpretação, que foi descrito
pelo protagonista quando o vê pela primeira vez, assim que chega na Fazenda Nhanva, no
lugar chamado Palhão, onde fora lecionar como Professor Riobaldo:
Ele era imediatamente estúrdio, vestido de brim azul e calçando botas amareladas. Era nervoso, magro, um pouco mais para baixo do que o tamanho mediano, e com braços que pareciam demais de compridos, de tanto que podiam gesticular. Fui indo, ele veio vindo, o grande revólver na cintura; um lenço no pescoço dele esvoaçava. E aquele cabelo bom, despenteado alto, topete arrepiadinho (ROSA, 2015, p. 114).
104
Para compreendermos as possíveis significações do lenço na cena, precisamos antes
observar a totalidade do vestuário de Zé Bebelo: brim azul, botas amareladas, grande revólver
na cintura, lenço no pescoço. Logo, temos três itens grossos, rústicos, de materiais pesados —
o brim, provavelmente o couro e o ferro —. Assim, o lenço aparece como item de leveza, de
fluidez, como algo a se contrapor à sisudez do restante das peças que encenam o figurino
desse chefe. Além disso, no final do século XIX e início do século XX, havia importação de
lenços de seda (e outros tecidos finos, como o tafetá) da Europa, adquiridos no Brasil por
pessoas abastadas, o que nos leva a compreender o poder de compra de Zé Bebelo. Mas, para
além, outro fato sobre os lenços parece se inscrever nas linhas rosianas.
Nas fotografias registradas por Flávio de Barros (apud CUNHA, 2016, p. 588-597),
em Os sertões, é possível ver o uso de lenços no pescoço por policiais da infantaria, atuantes
na Guerra de Canudos. Os jagunços de Antonio Conselheiro, então, não utilizavam lenços.
Porém, com a formação do bando de Lampião, Frederico Pernambucano de Mello (A
estética..., 2000) relata que, ao assaltar abastadas fazendas, Virgulino levava consigo objetos
de alto valor, dentre eles, os lenços de seda e tafetá — seus preferidos — importados. Além
disso, fazendeiros que ofereciam hospedagem ao bando também presenteavam Lampião com
itens caros, buscando manter a paz em sua propriedade ao agradar o líder do banditismo.
Dessa forma, sabemos que o uso de lenços no pescoço se liga tanto à polícia quanto ao
cangaço.
E o lenço, somado à roupa de brim azul, de Zé Bebelo, remete tanto aos uniformes
policiais, feitos desse material nas cores cáqui ou cinza, quanto à moda do cangaço, já que era
costume a utilização de roupas de brim nas cores cáqui e azul e, em raros casos, na cor cinza
(DOCUMENTÁRIO..., 2016). Assim, o lenço de Zé Bebelo envolve a personagem em
ambiguidade, ora representante da polícia, ora de jagunços, valendo-se da estética histórica da
indumentária dos guerreiros do sertão nordestino. A indumentária de Zé Bebelo, analisada a
partir de seu lenço, desvenda a ilustração da própria trajetória que a personagem cumpriria na
trama posteriormente ao primeiro encontro com Riobaldo, partindo da posição de aspirante a
político ao lado da polícia para chefe dos jagunços na tentativa de vingar a morte de Joca
Ramiro.
Além do lenço, Guimarães Rosa escolheu pontuar as lembranças de Riobaldo com
outra peça típica do cangaço: a capanga “bordada e historienta” (ROSA, 2015, p. 128) de
Diadorim/Reinaldo:
105
Aí nesse mesmo meio-dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono, ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com lavores e três botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Dependurou o espelho num galho de marmelo-do-mato, acertou seu cabelo, que já estava cortado baixo. Depois quis cortar o meu. Me emprestou a navalha, mandou eu fazer a barba, que estava bem grandeúda (...) (ROSA, 2015. p. 127, grifo nosso).
Nesse trecho, Riobaldo conta que junto a Diadorim cuidava da aparência porque, conforme
aprendeu com o amigo, “Pessoa limpa, pensa limpo” (ROSA, 2015, p. 128). E relembra
também que Diadorim o presenteou com o item:
(...) De estar folgando assim, e com o cabelo de cidadão, e a cara raspada lisa, era uma felicidadezinha que eu principiava. Desde esse dia, por animação, nunca deixei de cuidar de meu estar. O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel, me deu, naquela dita capanga. Às vezes, eu tinha vergonha de que me vissem com peça bordada e historienta; mas guardei aquilo com muita estima (...) (ROSA, 2015, p. 128, grifo nosso).
Importa saber que a capanga é uma bolsa menor do que o bornal e que, geralmente,
tem uma alça para ser transpassada no corpo ao ser pendurada. Servia para carregar objetos
pessoais bem como pequenas porções de comida durante a travessia. O que diferencia a
capanga de Diadorim das peças dos demais jagunços são os adjetivos escolhidos para
descrevê-la. Assim, é informado que se trata de uma capanga “bordada”, característica já dita
anteriormente sob o sinônimo de “lavores”, e “historienta”, que é uma nova informação sobre
a peça.
Sobre ser “bordada”, pensamos em um item tanto mais feminino quanto mais vaidoso,
diferenciador, individual, aspecto que contribuiria com a ambiguidade sobre a personagem
Diadorim, um corpo entre o masculino e o feminino, em neblina na interpretação do
protagonista-narrador. Já o adjetivo “historienta” colabora com duas interpretações: a
primeira, liga-se ao significado como peça “Cheia de enfeites, de luxo. // Bras. pop.”
(MARTINS, 2020, p. 265), que pode apontar para o status de Diadorim, bem como sua roupa
nova e chapéu novo desde criança, conforme já citamos, além de reforçar a ambiguidade
sobre o gênero da personagem; a segunda, ao vermos “historienta” como uma peça com
história, que pertence a certo espaço e tempo, que contém alguma substância social e política
de determinada região.
Nesse sentido, as mais famosas capangas e bornais bordados e historientos, dentro da
temática do jagunço, são as confeccionadas pelos cangaceiros, sobretudo do grupo de
Lampião, que revolucionou a estética do cangaço, segundo Frederico Pernambucano de Mello
106
(A estética..., 2000; FRÓIS, 2021). Em seu bando, o costume era que cada cangaceiro de
maior hierarquia ganhasse ou ele mesmo confeccionasse seus bornais e capangas de lona ou
brim, cobertos por lavores coloridos e com motivos desenhados individualmente para cada
um.
A partir desse registro histórico, percebemos que a capanga “bordada e historienta”
pode fazer de Diadorim um jagunço ainda mais “macho em suas roupas” e em sua bolsa, tão
cabra macho quanto os cangaceiros da história brasileira. E, ao presentear Riobaldo com sua
capanga bordada e historienta, Diadorim também indicava que o amigo subia na hierarquia,
ganhava assim, além do seu afeto, um símbolo de pertencimento e confiança no bando cujo
pai de Diadorim — Joca Ramiro — era o chefe.
Por fim, encerrando o diálogo entre os acessórios rosianos e lampiônicos, há o cinto-
cartucheira. Essa peça se constitui em uma espécie de cinto grosso de couro, com diversas
pequenas bainhas nas quais se armazenam os cartuchos de armas maiores, como rifles
(carabinas, fuzis) e espingardas. Geralmente, são usados pendurados nos ombros, cruzando-as
pelo peito, bem como podem ser usados na cintura, como um cinto (DOCUMENTÁRIO...,
2016). Não são de uso comum, sendo vistos, sobretudo, em cenários de guerras, usados por
soldados.
Logo, temos um item projetado para a guerra encenado na indumentária dos jagunços
rosianos. E a peça específica que nos interessa nesta análise é a que pertence a Riobaldo, pois
ela determina a condição do protagonista como jagunço. Assim, Riobaldo narra, ao final do
conflito com o Hermógenes, findada a guerra e realizada a vingança — pela qual Diadorim
deu a própria vida — pela morte de Joca Ramiro:
E aquela era a hora do mais tarde. O céu vem abaixando. Narrei ao senhor. No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu, a minha verdade. Fim que foi. Aqui a estória se acabou. Aqui, a estória acabada. Aqui a estória acaba. Resoluto saí de lá, em galope, doidável. Mas, antes, reparti o dinheiro, que tinha, retirei o cinturão-cartucheiras — aí ultimei o jagunço Riobaldo! Disse adeus para todos, sempremente (ROSA, 2015, p. 486. grifo nosso).
Portanto, ao retirar seu cinto-cartucheira, o protagonista “ultima” o jagunço Riobaldo, ou seja,
se despe de sua munição, abre mão do que alimenta suas armas, encerra o peso das balas
sobre seu corpo, finda a travessia no banditismo. Além disso, a escolha lexical ao chamar o
cinto de “cinturão” também permite a interpretação de Riobaldo como um lutador que ganhou
107
a luta, mas que abandona seu prêmio para “ultimar” sua carreira, já que o cinturão é um dos
prêmios dado a boxeadores desde 1922 (WIKIPÉDIA, 2021).
Por fim, percebemos que os três acessórios analisados dialogam historicamente com o
vestuário do cangaço brasileiro, ajudando a contextualizar o cenário da estória, e se
entrelaçam a aspectos da caracterização de cada personagem, tanto por sua jornada na trama
quanto por seu mistério. Temos, portanto, Zé Bebebo e seu lenço indicativo de sua
duplicidade de posições na guerra do sertão — ora policial, ora jagunço; Diadorim com sua
capanga bordada e historienta, envolto no mistério de seu gênero; Riobaldo e seu cinturão-
cartucheira, vencedor e perdedor na luta ao fim da árdua travessia.
108
5 ARREMATE
No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato, dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso... (ROSA, 2015, p. 80).
Aqui, a dissertação acaba. A dissertação acaba aqui. Iniciada e finalizada com clichês
do universozinho rosiano, resultado da incorporação de palavras, modos de escrita e pensar
pelos apaixonados pela grande obra de João Guimarães Rosa.
E, como em Grande Sertão: Veredas, guardamos um mistério em nossa trama, contido
no nome escolhido para esta pesquisa, sobre o qual somente agora discursamos. Contamos,
portanto, que a escolha por Grande Viés: Veredas, além de parodiar o nome da obra estudada,
reflete duas vertentes, sendo uma literária e outra acerca de conhecimentos de corte e costura.
Assim, com “Viés”, buscamos informar que se trata de uma possibilidade interpretativa da
obra, dentre tantas veredas possíveis, o que sabemos ser óbvio. E também consideramos o
significado dado ao termo no âmbito da confecção de indumentária, já que cortar e costurar
um molde no viés do tecido costuma ser, além de muito dificultoso, um risco imenso de
perder a peça por problemas no entrelaçamento da linha, sendo que a mesma pode enrugar ou
rasgar durante o processo, além do resultado final restar torto, como um gauche.
Logo, o nome desta pesquisa espera fazer jus à interpretação que nela realizamos,
buscando, apesar de todos os riscos críticos, demonstrar como a indumentária masculina
encena diversas possibilidades de significação em Grande Sertão: Veredas. Por aqui, vimos
que o gibão aponta para algo antigo; a calça, para a macheza; a camisa, para o futuro da
trama; o colete, para o mistério; o chapéu, para a distinção social; o sapato, para a hierarquia;
e os acessórios, para a história brasileira, dentre outras características.
Tendo isso em vista, foi possível perceber que, além da própria encenação da estória e
a manutenção de seus mistérios, a indumentária ajuda a nortear nossa leitura na compreensão
do tempo, espaço e cultura do enredo. Observar pesquisas que se debruçaram sobre a
sociologia e a história do vestuário nos possibilitou delimitar uma interpretação partindo-se do
que é verossímil, para só então descobrirmos em que detalhes o autor insere aspectos que vão
além da cultura, espaço e tempo, como vimos na estampa das camisas, por exemplo, a
anunciarem desfechos próximos a suas descrições.
Sabendo da riqueza do diálogo entre áreas, esperamos que nosso viés contribua com os
estudos interdisciplinares, colocando em diálogo conhecimentos diversos, como os da
109
literatura brasileira e da sociologia da indumentária, que se costuram, desdobram-se uma no
bolso da outra, entrelaçam-se como um nó apertado em corda rústica para nos dar o trabalho
imenso ao tentar desatar pela leitura.
Alfredo Bosi (1988, p. 275), afirma que “Ler é colher tudo quanto vem escrito. Mas
interpretar é eleger (ex legere: escolher), na messe das possibilidades semânticas, apenas
aquelas que se movem no encalço da questão crucial: o que o texto quer dizer?”. Sabendo-se
que Grande Sertão: Veredas quer dizer muitas coisas, tantas que infinitas são suas análises,
como já o disse Antonio Candido (2002), acreditamos que, ao abordar a leitura da
indumentária masculina de sua trama, alcançamos apenas uma pequena possibilidade de
compreender o que teria feito João Guimarães Rosa em sua “absoluta confiança na liberdade
de inventar” (CANDIDO, 2002, p. 121).
Assim, chegamos ao fim de nossas pontuações sobre os aspectos importantes da
indumentária masculina rosiana, que encena, dentre outras coisas, o homem Diadorim, e
mesmo diz acerca da vaidade de Riobaldo, que busca sempre estar de acordo com o “bando”
no qual está inserido, seja de botinas na fazenda ou de alpercatas na jagunçagem.
Conforme explicitado na introdução desta pesquisa, não tivemos a intenção de delinear
nenhuma personagem individualmente, mas observar o sentido emergente do contraste entre
as peças de indumentária da narrativa. Assim, notamos que cada calça, por exemplo, encena
uma particularidade acerca da personagem que a veste ou a possui, mas partindo sempre do
vestuário para tal análise, e não do sujeito da trama.
Além disso, sabemos que nesta caminhada algumas perguntas findaram sem respostas,
por necessitarem de mais tempo, espaço e cultura para que sejam elaboradas. E, conforme
aprendemos no ambiente acadêmico, saber elaborar perguntas é tão importante quanto a busca
por suas respostas. Sobretudo na área de Humanas, são as perguntas a nossa própria
elaboração e não a certeza das exatidões. Então, se realmente podemos ler Diadorim como um
homem trans, só uma pesquisa com esse recorte talvez esclareça. Aqui, limitamo-nos a
analisar o que cada peça de seu vestuário sugere de acordo com a cultura de seu tempo e
espaço.
Percebemos, ainda, a riqueza e a complexidade das escolhas feitas em sua escrita pelo
autor empírico, o sábio e apaixonado pelas palavras João Guimarães Rosa. Assim, temos
detalhes fragmentados e dispersos por toda a narrativa que apenas nos deixam um pequeno
rastro de apontamentos sobre um tempo e um espaço bordados em cada peça de vestuário,
mas carregados de mistério, a nos permitir apenas ilações muito perigosas.
110
Além disso, vale notar que o próprio autor tinha sua inconfundível marca de
indumentária: a inseparável gravata borboleta. Registrada inclusive em entrevistas, como:
(...) Estamos quase chegando e eu pergunto cretinamente: — Por que você só usa gravata borboleta? Não é, pergunta de entrevista, é? — Não. É que eu acho que a gravata borboleta define as pessoas. É porque nunca aprendi a dar laço nas gravatas comuns. Acho esta mais fácil (...) (BLOCH, 1989, grifo do autor). (...) Lá está o lacinho (ou gravata-borboleta, meu chapa?) simetricamente impecável, fazendo pendant com os óculos claros, tão claros que ainda esclarecem mais os olhos sempre inquiridores, atentos. E é curioso como um mineiro de Cordisburgo, a dois passos (brasileiros) da Itabira de Drummond, gosta, ao contrário deste (à primeira vista), de falar, de contar, de ser ouvido (...) (SARAIVA, 2000).
Esses trechos, extraídos de duas conversas-não-entrevistas feitas por dois interlocutores
diferentes — Pedro Bloch e Arnaldo Saraiva —, em tempos diversos — 1963 e 1966,
respectivamente —, trazem o traço de vestuário eternizado na imagem do autor. E mesmo que
o autor afirme ser sua escolha de vestuário feita pela facilidade inerente ao modelo de sua
gravata, poderíamos desconfiar que também se trata de uma diferenciação, em seu tempo, dos
demais homens, afinal sabemos o quão peculiar foi e é João Guimarães Rosa. Tão peculiar
que resta-nos questionar, como o Drummond (2015 apud ROSA, 2015, p. 9):
João era fabulista? fabuloso? fábula? Sertão místico disparando no exílio da linguagem comum? Projetava na gravatinha a quinta face das coisas inenarrável narrada? Um estranho chamado João para disfarçar, para forçar o que não ousamos compreender?
E seguir a travessia desconfiando de muita coisa, dentro da coisa, dentro da trama, dentro do
infinito entrelaçado e urdido nas entrelinhas de Rosa.
111
REFERÊNCIAS ABREU, Patrícia Veloso de. Moda e Sertão: os corantes naturais do cerrado mineiro. 2010. Dissertação (Mestrado em Design) — Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2010. ACOM, A. C.; BOSAK, J.; MORAES, D. Uma investigação sobre o Ser da Moda: a filosofia das roupas em Thomas Carlyle. dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], v. 12, n. 25, p. 184–198, 2019. DOI: 10.26563/dobras.v11i25.860. Disponível em: dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/860. Acesso em: 10 ago. 2021. A estética do cangaço. Brasil: Fundação Joaquim Nabuco, 2000. 1 vídeo (29 min). Publicado por Fundação Joaquim Nabuco. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Zt6LlzfgXX4. Acesso em: 19 out. 2021. AGUIAR, Flávio. Grande Sertão em linha reta. In: DUARTE, Lélia Parreira; ALVES, Maria Theresa Abelha (Orgs.). Outras margens: estudos da obra de João Guimarães Rosa. Belo Horizonte: Autêntica / PUC Minas, 2001, p. 61-76. ARRIGUCCI JR., David. O guardador de segredos: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. ARRIGUCCI JR., David. O mundo misturado: romance e experiência em Guimarães Rosa. Novos Estudos (CEBRAP), n. 40, São Paulo, nov. 1994, p. 7 – 29. AMADO, Jorge. Gabriela, cravo e canela: crônica de uma cidade do interior. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. ANAWALT, Patricia Rieff. A história mundial da roupa. Tradução de Anthony Cleaver e Julie Malzoni. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2011. ANDRADE, Mário. Macunaíma. São Paulo: UBU, 2017. ANJOS, Nathalia. O cérebro e a moda. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2020. ARAGUAIA, Mariana. Veado (Família Cervidae). In: REDE ONMINIA. Mundo Educação. Goiania: [S. d.]. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/veado.htm. Acesso em: 17 out. 2021. ASSIS, Machado de. Volume de contos. Rio de Janeiro: Garnier, 1884. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1912. Acesso em: 02 nov. 2021. ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Antofágica, 2020. ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Antofágica, 2019. AULETE DIGITAL. Dicionário Caldas Aulete. São Paulo: Lexikon, 202. Disponível em: https://www.aulete.com.br/. Acesso em: 26 out. 2021.
112
BARTHES, Roland. Sistema da moda. Tradução Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009 (Coleção Roland Barthes). BASTIANETTO, Patrizia Giorgina Enricanna Collina. A tradução dos neologismos rosianos na versão italiana de “Grande Sertão: Veredas”, de João Guimarães Rosa. 1998. 153f. Dissertação (Mestrado) — Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Universidade Federal de Minas Gerais, 1998. BASTOS, Laísa M. P. C. Diadorim trans? Performance, gênero e sexualidade em Grande Sertão: Veredas. In: I Simpósio Nacional de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - “Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa”: a construção do conhecimento no campo das Letras, v. 1, 2016, p. 330-342, Mariana(MG). Anais da XIV Semana de Letras da UFOP. Mariana (MG): ICHS, 2016. Disponível em: https://www.academia.edu/36429933/Diadorim_Trans_Performance_g%C3%AAnero_e_sexualidade_em_Grande_Sert%C3%A3o_Veredas. Acesso em: 22 abr. 2020. BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: a experiência vivida, volume 2. Tradução de Sérgio Milliet. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. BÍBLIA SAGRADA. Bíblia Sagrada — Nova tradução na linguagem de hoje. São Paulo: Paulinas Editora, 2005, 1472p. BICALHO, P. S. dos S. Se pinta e se veste: a segunda pele indígena. dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], v. 11, n. 23, p. 88–99, 2018. DOI: 10.26563/dobras.v11i23.712. Disponível em: https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/712. Acesso em: 11 ago. 2021. BLOCH, Pedro. Pedro Bloch entrevista. Rio de Janeiro: Ed. Bloch, 1989. In: BRITO; José Domingos de. Grandes entrevistas: Guimarães Rosa 1. Tiro de Letra. São Paulo, 2021. Disponível em: http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/GuimaraesRosa.htm. Acesso em: 4 ago. 2021. BOLLE, Willi. Grandesertão.br: o romance de formação do Brasil. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2004, 480p. (Coleção Espírito Crítico). BOTAS dos Gaúchos – Linha Campeira #11. Rio Grande do Sul: Linha Campeira, 15 jul. 2017. 1 vídeo (5 min). Publicado por Linha Campeira. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iKGtfX8Ax5M&t=140s. Acesso em: 3 nov. 2021. BRITO, Antônio Carlos de. Lero-lero [1967-1985]. São Paulo: Cosac Naify, 2012. CANDIDO, Antonio. Tese e antítese: ensaios. 4.ed. São Paulo: T. A. Queiróz Editor, 2002. CANDIDO, Antonio. Vários escritos. 4.ed. São Paulo: Duas Cidades; Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004. COSTA, Ana Luiza Martins. Veredas de Viatori. Cadernos de Literatura Brasileira, São Paulo, n. 21-22, p. 10-58, dez. 2006. Disponível em:
113
https://issuu.com/ims_instituto_moreira_salles/docs/clb_guimar__es_rosa. Acesso em: 22 jun. 2021. CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. Tradução de Cristina Coimbra. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2006. CRUZ, Camila Oliveira da. Sucuri. In: InfoEscola. InfoEscola — Navegando e Aprendendo, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: https://www.infoescola.com/repteis/sucuri/. Acesso em: 3 nov. 2021. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010, 744p. CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: UBU, 2016. DOCUMENTÁRIO “A estética do cangaço” por Frederico Pernambucano. [S. l.]: Ramssés Silva, 11 abr. 2016. 1 vídeo (43 min.). Publicado por Ramssés Silva. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RQRbcI4Kauc, Acesso em: 26 out. 2021. DRUMMOND DE ANDRADE, Carlos. Nova reunião: 23 livros de poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. ECO, Umberto. Entrando no bosque. In: ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. Tradução de Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 7-320. FARIAS, Ana Cláudia Silva et al. As transformações do couro no trabalho de Espedito Seleiro como alternativa de superação para as adversidades do sertão. Revista Labor, [S. l.], v. 1, n. 11, 2014. Disponível em: repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/23449/1/2014_art_vaszuimacsfarias.pdf. Acesso em: 11 ago. 2021. FEMININO Cangaço (Documentário). Brasil: Centro de Estudos Euclydes da Cunha, 2016. 1 vídeo (1 h 15 min). Publicado por CEEC - Centro de Estudos Euclydes da Cunha. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wsTCQ7LOeds. Acesso em: 19 out. 2021. FERNANDES, Márcio Leandro. Pudor: o que a Igreja ensina e qual sua importância? In: Portal Comunidade Canção Nova, 2018. Disponível em: formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/pudor-o-que-igreja-ensina/. Acesso em: 11 ago. 2021. FERREIRA, N. R. A. O calçado como artefato de proteção à diferenciação social: A história do calçado da Antiguidade ao século XVI. Ciência et Praxis, [S. l.], v. 3, n. 06, p. 83–90, 2010. Disponível em: https://revista.uemg.br/index.php/praxys/article/view/2174. Acesso em: 3 nov. 2021. FLÜGEL, John Carl. Sobre o valor afetivo das roupas. Tradução de Izabel Marques Massara Haddad. Psychê, v. 22, 2008, p. 13-26. Disponível em: redalyc.org/articulo.oa?id=30711292002. Acesso em: 10 ago. 2021.
114
FOGG, Marnie. Tudo sobre moda. Tradução de Débora Chaves, Fernanda Abreu, Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Sextante, 2013. FRÓIS, Camila. A estética do cangaço e o sertão fashion. In: Portal Artesol — Artesanato Solidário, 2021. Disponível em: artesol.org.br/conteudos/visualizar/A-estetica-do-cangaco-e-o-sertao-fashion. Acesso em: 11 ago. 2021. GALVÃO, Walnice Nogueira. As Formas do Falso: um estudo sobre a ambiguidade no Grande Sertão: Veredas . São Paulo: Perspectiva, 1972. GODART, Frédéric. Sociologia da moda. Trad. Lea P. Zylberlicht. São Paulo: Senac, 2010. GOMES DE ANDRADE, Francisco. O demônio interior em Grande Sertão: Veredas. 2011. Dissertação (Mestrado em Letras) — Universidade Federal de Sergipe, 2011. HILST, Hilda. Da poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. ISER, Wolfgang. O jogo do texto. In: LIMA, Luiz Costa (Org.). A Literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Tradução de Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 105-118. LACERDA, Ana Cristyna Reis. Ecologia e estrutura social do veado-campeiro. 2008. Tese (Doutorado em Biologia Animal) — Universidade de Brasília, Brasília, 2008. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3665/1/2008_AnaCristynaReisLacerda.pdf. Acesso em: 20 out. 2021. LORENZ, Günter. Diálogo com a América Latina: panorama de uma literatura do futuro — Diálogo com Guimarães Rosa. São Paulo: Editora Pedagógica Universitária, 1973. In: BRITO; José Domingos de. Grandes entrevistas: Guimarães Rosa 2. Tiro de Letra. São Paulo, 2021. Disponível em: http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/GuimaraesRosa-1965.htm. Acesso em: 4 ago. 2021. MARQUES, Ana Martins. Como se fosse a casa: uma correspondência. Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017. MARTINS, Nilce Sant’Anna. O léxico de Guimarães Rosa. 3. ed. rev. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2020. MELO, Franciane Pimentel. O costurar da moda, da literatura e do jornalismo nas crônicas de João do Rio. 2017. Dissertação (Mestrado em Humanidades, Culturas e Artes) — Universidade do Grande Rio, Duque de Caxias, 2017. MEZABARBA, Solange R. O vestir e os conflitos femininos na obra de Clarice Lispector: o caso do chapéu da rapariga. dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], v. 13, n. 28, p. 27–42, 2020. DOI: 10.26563/dobras.v13i28.1058. Disponível em: https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/1058. Acesso em: 25 ago. 2021.
115
MICHAELIS. Michaelis - Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2021. Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/veado/. Acesso em: 20 out. 2021. MILAN, Pollianna. A moda de Lampião. Gazeta do Povo, Vida e Cidadania, Cangaço, 6 ago. 2010. Disponível em: gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-moda-de-lampiao-26ohoct3wvy2p0942qutg2pu6/. Acesso em: 11 ago. 2021 MIRHAN, Lejeune. Os 203 anos do nascimento de Karl Marx. In: MIRHAN, Lejeune. Portal Vermelho, colunistas, 5 maio 2021. Disponível em: https://vermelho.org.br/coluna/os-203-anos-do-nascimento-de-karl-marx/. Acesso em: 28 ago. 2021. MORAIS, Márcia Marques de. A travessia dos fantasmas — literatura e psicanálise em Grande Sertão: Veredas. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. MORICONI, Italo (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. NETO, João Cabral de Melo. Poesia completa. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2020. OLIVEIRA, A. C. de. Corpo vestido no social: contribuições da semiótica para o estudo da aparência e da identidade. dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], n. 31, p. 13–40, 2021. DOI: 10.26563/dobras.i31.1282. Disponível em: dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/1282. Acesso em: 10 ago. 2021. PEZZOLO, Dinah Bueno. Tecidos: história, trama, tipos e usos. 5. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2017. RONÁI, Paulo. Rosa e Ronái: o universo de Guimarães Rosa por Paulo Ronái, seu maior decifrador. Organização de Ana Cecília Impellizieri Martins e Zsuzanna Spiry. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020, 304 p. ROSA, João Guimarães. Estas estórias. 7. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015x. ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 21. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim: Corpo de baile. 12 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016. ROSA, João Guimarães. Sagarana. 72. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017. ROTHBERG, Luciana. Na superfície têxtil: narrativas em estampas de Ronaldo Fraga. 2012. 136 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012. RUFFATO, Luiz. Eles eram muitos cavalos. 11. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
116
SALOMON, Geanneti Silva Tavares. Registros realistas da moda como parte do jogo irônico em Dom Casmurro, de Machado de Assis. Scripta, Belo Horizonte, v. 11, n. 21, 2º semestre de 2007, p. 107-122. Disponível em: http://periodicos.pucminas.br/index.php/scripta/article/view/13996. Acesso em: 18 ago. 2021. SAPUTIABA. [Rio de Janeiro]: Pindorama Filmes; TV Futura, out. 2020. 1 vídeo (6 min.). Publicado por Portal Um Pé de Quê. Disponível em: http://www.umpedeque.com.br/arvore.php?id=648. Acesso em: 6 out. 2020. SARAIVA, Arnaldo. Conversas com escritores brasileiros. Porto: ECL, 2000. (Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses). In: BRITO; José Domingos de. Grandes entrevistas: Guimarães Rosa 3 (última entrevista). Tiro de Letra. São Paulo, 2021. Disponível em: http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/GuimaraesRosa1.htm. Acesso em: 4 ago. 2021. SEIXAS, Netília Silva dos Anjos; SEPAUL, Ruth Harriet Santos da Rocha. Singer – o alinhavar de estratégias mercadológicas em anúncios do século XIX. In: XVI CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORTE, 2017, Manaus. Anais (...) Manaus: INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, 2017. Disponível em: http://www.intercom.org.br/sis/eventos/regional/resumos/R54-0025-1.pdf. Acesso em: 19 out. 2021. SOUZA, Gilda de Mello e. A ideia e o figurado. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2005. (Coleção Espírito Crítico). STALLYBRASS, Peter. O casaco de Marx: roupas, memória, dor. Trad. Tomaz Tadeu. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. TURCHI, Maria Zaíra. Jagunço e jaguncismo: história e mito no sertão brasileiro. O público e o privado, v. 4, n. 7, jan.-jun. 2006. Disponível em: revistas.uece.br/index.php/opublicoeoprivado/article/view/2387. Acesso em: 11 ago. 2021. UTÉZA, Francis. JGR: Metafísica do Grande Sertão. Tradução de José Carlos Garbuglio. São Paulo: Editora de Universidade de São Paulo, 1994. VOLPI, M. C. As roupas pelo avesso: cultura material e história social do vestuário. dObra[s] – revista da Associação Brasileira de Estudos de Pesquisas em Moda, [S. l.], v. 7, n. 15, p. 70–78, 2014. DOI: 10.26563/dobras.v7i15.75. Disponível em: dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/75. Acesso em: 10 ago. 2021. WIKIPÉDIA. Cinturão de campeão. In: WIKIPÉDIA. Wikipédia, a enciclopédia livre, 2 set. 2021. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Galero. Acesso em: 05 nov. 2021. WIKIPÉDIA. Galero. In: WIKIPÉDIA. Wikipédia, a enciclopédia livre, 14 jan. 2019. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Galero. Acesso em: 03 nov. 2021.